#08 Memória, Arquivo e História | Dos Espaços Públicos aos Arquivos Íntimos
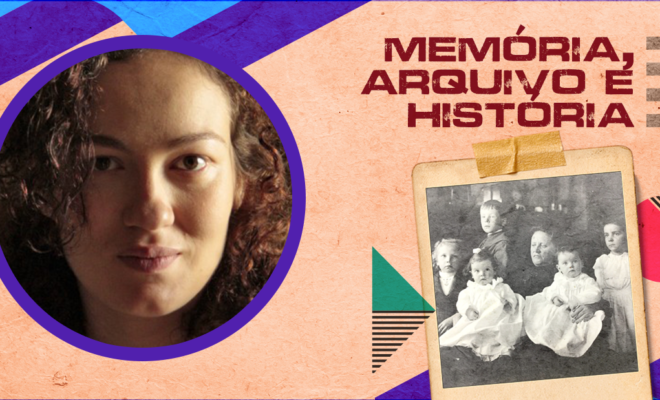
Imagem – Divulgação| Arte – Rodrigo Sarmento
‘Trabalhar as próprias memórias e arquivos em uma obra artística demanda pensar criticamente esse fetiche pela intimidade e pelo jogo entre verdadeiro e falso, porque não conseguimos mais viver sem esses avatares que vivem virtualmente por nós’.
Com os espetáculos autobiográficos Festa de Separação e Conversas com meu pai na bagagem, a artista e pesquisadora Janaína Leite colabora no nosso dossiê Memória, Arquivo e História pensando, em entrevista ao nosso editor-chefe, Márcio Andrade, como as narrativas do íntimo podem embaralhar nossa relação com o público e o privado .
Janaína Leite é Doutoranda pela Escola de Comunicação e Artes (USP) e Mestra em Artes Cênicas (ECA/USP), autora do livro Autoescrituras Performativas – Do diário à cena (Ed. Perspectiva) e Graduada em Letras (USP). Uma das fundadoras do Grupo XIX de Teatro de São Paulo, em que atua, dirige e escreve, além de coordenar os núcleos de pesquisa Feminino Abjeto e Memórias, arquivos e autobiografias.
Janaína, como começaram tuas relações com o teatro e o interesse pelas narrativas do ‘real’?
Minha relação com o teatro começou muito cedo: passei por duas escolas profissionalizantes, mas foi na EAD – Escola de Artes Dramáticas que conheci meus parceiros no Grupo XIX de Teatro, minha principal formação. Começamos uma pesquisa que viria resultar no espetáculo Hysteria, formando nosso grupo a partir de um espetáculo.
O Grupo XIX de Teatro se estabelece mais fortemente a partir do segundo espetáculo, Hygiene, em que também trabalhamos a partir de fontes históricas, delineando um interesse em partir de materiais não dramáticos e por explorar espaços históricos da cidade. No caso do Hysteria, a gente parte de narrativas reais de mulheres trancafiadas em hospícios e, no caso de Hygiene, as pessoas que habitavam cortiços, ambos no século XIX.
No caso desses trabalhos, ainda que partíssemos de bases históricas e documentos, a criação nos guiava para uma estrutura de fábula que sempre envolvia enredo e personagens. No espetáculo Arrufos também fizemos uma trajetória do amor romântico do século XVII ao XXI, experimentando, dessa vez, tons mais autobiográficos ou performativos.
Então, tem uma forma de pesquisar teatro que vai me influenciando nessa pesquisa paralela, em que, por movimentos pessoais e um interesse pelas artes visuais e pelo cinema, vou caindo de paraquedas no ‘teatro do real’, que foi a minha experiência com o Festa de Separação, que fiz com meu ex-marido, Felipe.
Esse espetáculo nasceu a partir do momento em que nos deparamos com nosso término e quisemos fazer algo reflexivo/artístico juntos. Por ele não ser ator (mas filósofo), decidimos não trabalhar nem com ensaios nem com a lógica de dramaturgia voltada para personagens. Então, inventamos nosso próprio processo e, como nossa referência no momento era cinema, tomamos o referencial estético do documentário para criar o espetáculo.
Na parceria com o Luiz Fernando Marques, diretor do Grupo XIX, chegamos na ideia de realizar ‘festas de separação’ como parte do processo criativo. Então, não eram happenings nem ensaios para um espetáculo, mas um híbrido entre real e ficcional. Mesmo que soubéssemos que as festas aconteciam como processo para criação do espetáculo, elas também fizeram parte da nossa ‘vida de verdade’ mesmo.
Dessas fricções, abriu-se um leque de elementos para essa e outras pesquisas que fiz posteriormente, possibilitando que descobrisse o teatro documentário de Piscator e fosse enveredando por essa investigação nos últimos dez anos.
Nos trabalhos do Grupo XIX de Teatro, a verve histórica aparece nas pesquisas do grupo por meio de espetáculos como Hysteria, Hygiene e Arrufos. Como você pensa que rever essas memórias históricas pode nos fazer repensar o presente?
Nosso interesse histórico em realizar esses três espetáculos se dá justamente na medida em que o passado poderia jogar uma luz sobre o presente. No caso do Hysteria, meus amigos do XIX e eu estávamos estudando em uma disciplina do Antônio Araújo na ECA e começamos uma pesquisa sobre as relações de trabalho do século XIX. Como só tinham mulheres no grupo naquele momento, a gente chegou à questão: onde estavam as mulheres naquela situação histórica?
No caso, as mulheres burguesas estavam em casa ou nos hospícios, situação que a gente conheceu a partir de um texto chamado Psiquiatria e Feminilidade. Esse texto tinha algumas biografias mulheres que existiram naquela época e, partindo delas, a gente concebeu personagens para explorar a temática da peça.
Na base desse trabalho, a gente começou a explorar coisas importantes para o grupo XIX até hoje: a exploração de espaços não convencionais, a interatividade da plateia e a criação colaborativa a partir de fontes diversas.
Já o processo criativo do espetáculo Hygiene surgiu dos momentos em que fomos apresentar Hysteria em muitos espaços diferentes, principalmente casas antigas. A gente começou a se interessar pelos modos de habitar do século XIX e chegamos na questão de habitações coletivas, pesquisamos sobre vilas operárias e cortiços para descobrir que existia a Vila Maria Zélia.
Foi um assombro encontrar aquele lugar e entramos lá como uma ocupação: aqueles prédios definiram tematicamente e esteticamente muitas questões que nos interessavam. A exploração do espaço histórico foi ficando imensa a partir do uso de material documental, de arquivo, de depoimento. Os antigos moradores da Vila Maria Zélia e operários ainda estavam vivos naquela época e deram entrevistas que resultaram no Livro da Memória, com depoimentos de moradores relacionados à fábrica que deu origem à vila.
Então, esses trabalhos, de algum modo, ensaiam essas conexões com o presente, chegando ao futuro com Marcha para Zenturo, que fizemos com o Grupo Espanca (BH) e se passa em 2046/56, se passa no futuro. Creio que essa relação com o futuro e o passado não se trata necessariamente de uma preocupação arqueológica ou museológica, mas de um desejo de friccionar esses tempos para, talvez, iluminar questões sobre o presente a partir de suas diferenças e semelhanças.
O Grupo XIX também realiza residências e temporadas em prédios públicos abandonados em São Paulo. Como vocês percebem as relações entre essas ocupações e a preservação da memória das cidades?
O Grupo XIX iniciou esse envolvimento com os prédios antigos desde o Hysteria, em que eles funcionavam mais como espaços cenográficos. Começamos a desenvolver uma consciência da relação com a história desses espaços a partir de um processo artístico que fizemos na Vila Maria Zélia, que mobilizou toda a comunidade.
Trata-se de uma vila com casas de operários que foram passadas de gerações a gerações, formando os prédios privados e os prédios públicos (escolas, armazém, fábrica etc.). A gente chegou lá para fazer a primeira apresentação do Hysteria e continuamos realizando uma série de ações nos últimos catorze anos. Essas atividades trouxeram a Vila para o mapa cultural da cidade, criando outras relações do público com aquele espaço e ampliando nosso interesse em trabalhar para além de uma questão cenográfica.
Contudo, até hoje termina sendo uma batalha permanecer na vila, pois precisamos sempre justificar o uso público do espaço e a relação de convivência com os moradores também oscila muito. A gente idealizava a vila como uma comunidade organizada que teria mais consciência sobre os bens públicos, mas lá também impera uma lógica de condomínio fechado que dispersa o interesse pelo patrimônio cultural.
Oferecer um uso público para aqueles espaços não se mostra uma tarefa tão evidente quanto a gente pensava, quando precisamos lidar com bastante gente que preferiria ver construído um Franz Café, um shopping ou algo desse tipo. Então, essa batalha termina reverberando um movimento que vai para além de nós, pois outros grupos também vêm saindo dos teatros para realizar ocupações em outros espaços ociosos.
Um dos grandes catalisadores desse movimento tem sido a lei de fomento, que vem modificando significativamente o panorama do teatro de São Paulo, expandindo a lógica de teatro ao sair desses eixos convencionais. Recentemente, acabamos de ser contemplados com um prêmio Shell pela ocupação da Vila e não por um espetáculo específico, o que se mostra um reconhecimento bastante significativo.
Além dos espetáculos, a Vila exige de nós em uma série de outras ações que vão tornando-a um espaço de referência para o público e outros artistas a partir de atividades em teatro, artes visuais, fotografia, música, cinema.
Além do Grupo XIX, você realizou os espetáculos autobiográficos Festa de Separação e Conversas com meu pai e desenvolveu uma pesquisa sobre o autobiográfico no teatro contemporâneo que resultou no livro Autoescrituras Performativas – Do Diário à Cena. A partir dessa relação entre arte e academia, como você percebe esse interesse pelo documental e autobiográfico na cena contemporânea?
No caso do Festa de Separação, tudo começou em 2008, eu já trabalhava com alguns projetos de vídeo com meu ex-parceiro e tinha curiosidade com obras das artes plásticas, o que foi me apontando para esse universo não-ficcional, mais performativo. Mas, diante de tudo isso, acredito que foi a própria separação que começou a suscitar o desejo de fazer algo que falasse sobre o amor contemporâneo.
Felipe e eu estávamos no meio de uma viagem quando deflagramos a separação e conversamos sobre como encaminhar esse término. Em algum momento, tive a ideia de realizar um processo artístico sobre isso porque eu tinha participado de uma palestra de Júlio Aquino, professor da USP, em que ele falava sobre o amor contemporâneo a partir de Platão e outras referências. Inicialmente, quis juntar esse material filosófico a algo mais pessoal, como um arquivo de um casal real, e falei para Felipe, que, na época, achou a ideia estranha, mas curiosa e interessante.
Então, entramos no processo de promover festas de separação e trabalhamos sobre nossas memórias como casal e o próprio registro das festas, que funcionavam como happenings e geravam novos arquivos para o espetáculo. Na cena, funcionávamos quase como montadores desse grande arquivo de uma história de amor aliado a um monte de referências filosóficas, literárias e fotográficas com que a discutíamos sobre o amor, catalisando um interesse por criar uma cena menos mediada ficcionalmente, sem fábulas ou personagens.
No caso de Conversas com meu Pai, que teve um processo que levou sete anos para ficar pronto, tive um trabalho ainda mais árduo em relação a esses arquivos e memórias de uma relação entre pai e filha que detona toda a história. Trata-se de um espetáculo muito reflexivo e metalinguístico, em que eu também rememoro as tentativas e os fracassos do processo de tentar dar forma a essa história.
Esse meu interesse pelo autobiográfico se desenvolve em uma pesquisa teórica no mestrado que resulta no livro Autoescrituras Performativas, que tenta perceber no teatro esse uso do autobiográfico em cena. Além dele, tem o livro pioneiro de Marcelo Soler que toma como recorte teatro documental de forma mais ampla. A partir da minha formação em Letras, mesclei referências da Literatura, História e Psicanálise para conseguir olhar para esse fenômeno no teatro, que ainda tem poucos materiais sobre o assunto.
Nos últimos dez anos, tive contato com uma série de trabalhos bem interessantes nessa linha do biográfico e do documental, como a Cia Hiato e a Cia Munguzá de Teatro, por exemplo. Não sei se seria uma tendência, mas percebo que, hoje, parece que estamos desenvolvendo respostas a essa ‘sofreguidão pelo real’, porque acredito que fomos construindo também muitas ilusões, ingenuidades, fetiches e jogos nas maneiras de lidar com esse ‘real’.
Por se tratar de um terreno perigoso e intrigante de investigar, ele provoca muitas questões e deixa outras tantas em aberto. Agora, no doutorado, estou trabalhando sobre a obra da Angélica Videl que cruza a teatralidade e performatividade de forma muito radical: um trabalho muito autobiográfico, quase pornográfico, em que ela fala de uma pornografia da alma com uma emergência do corpo e trabalha com automutilação também.
Continuo muito interessada nessa investigação, pensando nas teatralidades expandidas que se arriscam nesse território sem sugerir um quadro estético previsível.
Friccionando um pouco mais essas questões, como você pensa essas ‘memórias do presente’ a partir dos arquivamentos e publicizações das nossas experiências por meio das imagens?
Recentemente, ando lendo o livro de Paula Sibilia, O Show do Eu, em que ela fala do fenômeno das ‘extimidades’, ou seja, essa dificuldade em cultivar a intimidade, um valor que, no século XIX, se mostrava como algo a ser preservado e separado da vida pública. Os romances desse século têm muito a ver com isso, com a investigação de uma interioridade que tinha complexidades e contradições que a vida pública não daria conta.
Nesse livro, Paula acredita que nós não preservamos nem separamos nada da vida pública e colocamos tudo nessa rede de exposição e autopromoção, como se tudo que teríamos como privado e íntimo terminasse sendo pensado e performado para o outro. Todavia, eu acredito que essa seja apenas uma das camadas com que escolhemos performar, mas que, de algum jeito, esse íntimo sobrevive.
Existe um excesso do falar de si, quase como se não houvesse esses lugares recônditos, mas que também gera problemas interessantes para investigar, como: se a gente vive essa hiperexibição do eu, o que significa você fazer desse gesto uma obra?
Trabalhar com suas próprias memórias em um processo artístico demanda que se pense criticamente essa exposição, porque não conseguimos mais viver sem esses avatares que vivem virtualmente por nós. Enquanto estou dormindo, por exemplo, meu avatar está sendo visitado, projetado, idealizado e criticado por outras pessoas, gerando várias questões para esse território do eu.
Quando fazemos esse exercício de forma acrítica, provavelmente, terminamos corroborando esse fetiche pelo eu, pela intimidade e por um jogo cínico entre verdadeiro e falso, porque vinculamos a plateia a um desejo por saber o que seria real ou não ou até reforçando autocomplacências ao invés de posturas críticas diante dessas questões.
Nesse tipo de processo, talvez seja mais interessante investir no pensamento sobre a linguagem: como expressar esse ‘eu’ pode ser feita sem corroborar o que já está explícito nas nossas redes sociais?












