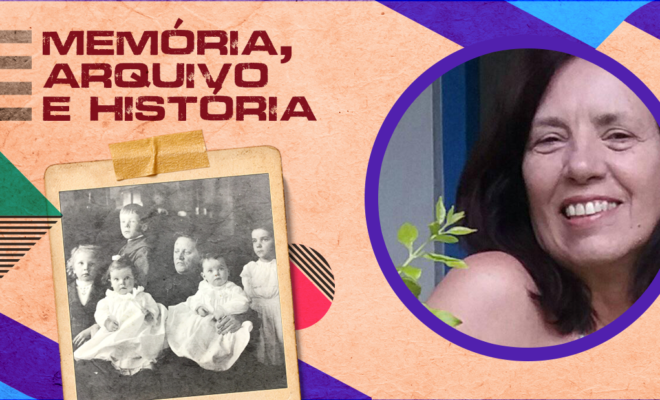#16 Urgências do Agora | ‘Tem um ruído no tempo’* – A arte em tempos de pandemia

Arte – Rodrigo Sarmento
Por Isaura Tupiniquim[1]
Artista do corpo, professora e pesquisadora. Doutoranda em Sociologia (UFPB)
Corpo arma, corpo in-visível
No início da pandemia e do isolamento social aqui no Brasil devido à Covid-19, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o filósofo camaronês Achille Mbembe, onde o autor diz que a pandemia democratizou o poder de matar[2], porque, entre outras coisas, o corpo é a própria arma; e que somente o isolamento social poderia controlar esse poder. Mbembe é autor de Necropolítica (2018), um ensaio que propõe o conceito de necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais nosso mundo contemporâneo, capitalista e colonialista cria “mundos de morte”.
Embora o poder de matar seja democrático com a Covid 19, uma vez que basta estar contaminado para contaminar outros, a pandemia deu a ver, ainda mais, os processos de desigualdade social pois, como sabemos, o corpo mais exposto é o do mais pobre. Não há “blindagem” possível para esses corpos que mal possuem abrigo, que precisam sobreviver com a crise sanitária emergente e a vulnerabilidade social cotidiana já conhecida. A pandemia mobilizou ainda a esfera da micropolítica na forma de solidariedade, não de ricos para pobres, mas entre os pobres que, em muitas cidades, criaram estratégias de colaboração por meio da distribuição de alimentos e de máscaras, por exemplo, como foi o caso do MST (Movimento Sem Terra)[3]. E no âmbito político internacional, a pandemia evidenciou o papel e a importância do Estado como regulador de estruturas sociais fundamentais como a saúde.
Estamos longe de transformar os paradigmas desse tempo como utopicamente pensamos no início da pandemia, mas a evidência do corpo, trazida por Mbembe, é fundamental para pensar o modo como historicamente construímos nossos corpos. Com a modernidade, o avanço técnico-tecnológico torna-se ainda mais engendrado aos modos de produção e de subjetivação. A tecnologia que opera seja à serviço da guerra e da destruição, seja à serviço da manutenção da vida, compõe novas espacialidades, temporalidades e corporalidades. É nesse sentido que, para Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica perde sua aura. Essa perspectiva de Benjamin, anunciava as profundas transformações sociais impostas pela modernidade, da “representação do homem por meio do aparato e sua autoalienação altamente produtiva”[4].
Aqui no Brasil, desde o golpe de 2016 com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, experienciamos o poder de interferência das novas mídias, mais precisamente das redes sociais, na formação de opinião pública e consequentemente nas decisões políticas. A comunicação mediada por esses aparatos corroborou com o avanço da extrema direita no país, com a criminalização da política e todos os sucessivos ataques contra a democracia, contra as artes e contra as instituições públicas de ensino. Agora, com a pandemia, testemunhamos atônitos a institucionalização espetacular do necropoder no governo Bolsonaro, ainda com auxílio desses meios, pelos quais circula o negacionismo e a desinformação. Se as últimas eleições já foram o laboratório da vida regulada pela virtualidade, a pandemia veio reforçar essa relação nos colocando diante de um abismo entre pensar outras formas de vida e “manter-se vivo”[5] sob condições precárias e abusivas do ponto de vista político.
Se o corpo é agora uma arma e se o Brasil vive, de modo intenso, um dilema entre corpo, política e mídia num regime neoliberal e necropolítico, como os profissionais da dança tem sobrevivido a esses dilemas se sua existência é fundamentalmente o corpo nas suas muitas dimensões e relações (social, psíquica, biológica etc.)? As mais diversas atividades formativas de dança se dedicam, sobretudo, ao estudo prático da sensibilização e percepção entre eu, o outro, o tempo, o espaço e as coisas. Mesmo num âmbito da produção estética, a sociabilidade, o deslocamento e a relação com público são quase sempre essenciais, principalmente quando se trata de criações que tem como princípio compositivo a relação com o público e/ou com o espaço público. São produções estéticas que afirmam, como uma perspectiva política de vida, a coletividade, o contato entre os corpos, o encontro entre corpo e cidade, etc.
Com isso, é possível não se desvincular desses pressupostos ao experimentar a condição da virtualidade na criação artística no contexto de pandemia? Como os regimes de visibilidade e “invisibilidade” operam na arte sob tais condições? Como os artistas estão articulando redes e estratégias de ação para enfrentar o momento de crise? Seremos capazes de desenvolver outras formas de sensibilidade tendo em vista a bidimensionalidade, as dissonâncias e ruídos do estar junto mediades pelo aparato digital? Essas e outras questões tem feito parte do nosso repertório cotidiano num ano que já marcou a história da humanidade.
A arte que salva precisa ser salva
Ao mesmo tempo que a arte foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia, ela vai ser exaltada como ‘respiro’ possível diante da condição de isolamento social. Nos primeiros meses da pandemia, quando por decisão dos governos estaduais e das prefeituras, todas as atividades culturais foram suspensas, a fim de reforçar a necessidade de isolamento e conter a propagação do vírus, diversas pessoas se manifestaram nas redes sociais ressaltando a importância da arte para aquele momento. Uma delas se referia de modo indireto àqueles que apoiaram as tentativas de censura e de criminalização da arte com o movimento “bolsonarista”, e dizia algo como: “Agora, em condição de isolamento, talvez as pessoas percebam a importância da arte para manutenção da nossa sanidade mental.”
Essa postagem que cito aqui de forma indevida, uma vez que não me recordo à fonte (fato que reforça a lógica fluída e excessiva das redes sociais), parte do pressuposto de que a grande maioria das pessoas tem acesso à internet, às agendas culturais de teatros ou de instituições que promovem arte, às plataformas de filmes, músicas e séries, além de livros, discos ou revistas. Sabemos que essa não é a realidade nem mesmo daqueles que poderiam pagar por isso, uma vez que a elite brasileira[6] “não consome arte”, consome produtos da indústria cultural distribuídos de forma massiva pelos grandes meios de comunicação. Para esses grupos, a arte é destituída de valor ou equidade social em relação às outras formas de produção consideradas mais úteis.
Um amigo cineasta uma vez me disse: “o Brasil não gosta de artistas, o Brasil gosta de famosos”! Nós, artistas não famosos, estamos sempre na iminência do desaparecimento pelas forças políticas dominantes. Além da nossa falta de espaço no sistema educacional, das condições precárias de trabalho e dos baixos recursos públicos destinados à produção artística nas cidades, há nesse momento uma cruzada moral que remonta a diversos paradigmas já existentes sobre os artistas, principalmente aqueles à margem das legitimações do seu mercado. E a quantidade de likes e de seguidores nas redes sociais nem sempre garantem o “cuscuz com ovo” sobre a mesa.
As políticas emergenciais
Ainda no início da pandemia uma outra questão muito polêmica se tornou assunto principalmente entre os artistas da dança, os editais emergenciais. A lógica do edital, que já é em si excludente, se torna um elemento extremamente contraditório no contexto da pandemia, dada a situação de vulnerabilidade generalizada do setor cultural, reforçar o elemento da competitividade própria dos sistemas de seleção dos editais é considerar que uns podem sobreviver e outros não. A aparição dos primeiros editais, para além das polêmicas, foi uma brecha à ausência de perspectivas entre os artistas que se viram impossibilitados de continuarem seus trabalhos. Mas editais como “Arte como Respiro” do Itaú Cultural, e alguns editais do SESC (Serviço Social do Comércio), por exemplo, não foram de fato emergenciais, demoraram muito tempo para pagarem os artistas e divulgarem a programação. A exceção vai para o SESC São Paulo, com a programação do “Sesc Ao Vivo”, que, segundo relatos, tem feito um trabalho responsável, disponibilizando equipamentos para as lives e pagando bem aos artistas e equipe. Porém nesse caso não se trata de edital, mas de uma curadoria realizada pela equipe do SESC.
A Lei Aldir Blanc, que foi uma vitória de partidos de oposição no congresso nacional, também demorou muito tempo para ser aprovada e implementada. Isso fez com que diversos profissionais da cultura não tivessem acesso ao auxílio dessa lei por já terem acessado o da Caixa Econômica Federal, o que ocasiona o retorno desse recurso para o governo, ficando suposto, assim, uma baixa demanda do setor pela assistência. Com isso, os editais da Lei Aldir Blanc tem sido a única possibilidade de acesso à esses recursos, de modo a garantir a vida de algumas produções artísticas. Nessa lei, cada Estado tem autonomia para administrar seus editais, e, apesar dos baixos valores destinados à cada categoria das diferentes linguagens artísticas, o fato de o edital não exigir as exaustivas prestações de conta e ter uma inscrição simplificada e online pode garantir uma distribuição relativamente equânime, ainda que saibamos que nem todos possuem os mesmos acessos à informação ou à internet.
Um aspecto que considero importante ressaltar aqui é o da censura prévia apresentada nesses editais. Um deles, aqui da Paraíba exige que todas as produções artísticas a serem submetidas no edital devam ter a classificação indicativa livre[7]. É bastante sintomático, do ponto de vista de uma análise crítica sobre o contexto das cruzadas morais no Brasil, identificar que após diversos casos de censura, de linchamentos virtuais e outras formas de ataque às artes nos últimos anos, nós sejamos submetidos a autocensurar nossas produções estéticas para que se adequem a editais que não preveem apresentações online “privadas”. É mais uma vez a arte a serviço das campanhas políticas do Estado, pois tornar públicas todas as apresentações tem mais a ver com a visibilidade do Estado como provedor do que com democratização da arte a todes.
Numa conversa informal que tive com o artista e amigo Neto Machado, sobre a relação entre artistas, instituições e editais durante a pandemia, ele ressaltou um aspecto de extrema importância e que reflete o modo como a arte é tratada socialmente, que é o não entendimento, por parte dessas políticas públicas, da lógica do processo criativo. Por exemplo, do tempo que os artistas levam para estudar, estabelecer relações, testar procedimentos, entre outras coisas, as políticas públicas geralmente só preveem o produto artístico, como se o artista fosse uma máquina de produção de sentidos, imagens, textos, sons, etc. Por isso seria tão importante que todos os artistas tivessem uma renda mínima digna para conseguirem pagar suas contas, iniciar ou continuar projetos e alimentar sua rede de parcerias que envolve produtores e técnicos. Ou mesmo editais destinados a processos compositivos, por exemplo.
Virtualidade, corpo, afetos e política
Com o isolamento social, a arte é remexida por dentro em muitos sentidos. A pandemia desarticulou toda uma cadeia de interdependência entre artistas, técnicos, produtores, gestores culturais e espaços dedicados à arte. Esses trabalhadores tiveram que repensar seus modos de produção para se adequar à virtualidade. Diversas atividades culturais (aulas, apresentações artísticas, debates etc.) foram transferidas para o espaço bidimensional da tela. Ficamos todes, mais do que nunca, subordinades à qualidade da internet e dos equipamentos, ou, às limitações e censuras de determinadas plataformas digitais. Tal contexto redimensionou de maneira abrupta nossas formas de interação entre corpo, tempo e espaço. Mesmo os poucos artistas que já investiam na interação entre corpo e tecnologia, tiveram que lidar com limitações materiais e técnicas. Manifestamente, os artistas não cessam de criar a partir das limitações; o limite é um conceito que produz muitos sentidos na arte. Então, o que se perde e o que se ganha com essa outra experiência de corpo?
Desde o início do século XX, artistas de muitos lugares do mundo experimentam o deslocamento da arte em relação aos espaços tradicionalmente dedicados a ela como forma de resistência à burocratização e institucionalização da arte sob o controle político e estético dos teatros, museus ou galerias. No Brasil, projetos como o “ACASAS”, concebido por Thulio Guzman, já evidenciavam o espaço da casa como dispositivo político para mobilizar a criação artística, propondo a reconfiguração de obras para o espaço doméstico e promovendo o encontro entre público e artistas fora do circuito tradicional. Mas com a pandemia, além do espaço restrito da casa, tem a mediação da tela e das plataformas digitais com suas leis e diretrizes que borram as fronteiras entre público e privado.
Ao mesmo tempo que o corpo está restrito ao espaço físico e às dimensões da tela, ele torna-se expandido, pode ser visto para além das fronteiras geográficas, pode ser salvo e ficar registrado, pode acontecer e desaparecer, não controlamos sua temporalidade. O corpo e a arte passam a ser regulados por uma dimensão virtual, mas não menos concreta e determinante. Talvez o exemplo mais explícito dessa regulação seja a impossibilidade da nudez nos veículos de maior alcance, que, nesse contexto, se assemelham aos espaços públicos. Esse aspecto tem instaurado diferentes modos de censura às artes durante a pandemia.
O borrar de fronteiras também se tornou um dispositivo estratégico que possibilita a conexão entre pessoas de diferentes localidades. Com a pandemia, cursos online, reuniões de trabalho ou criações artísticas à distância se tornaram uma condição que tem produzido encontros e acessos talvez improváveis em outro contexto. Considerando, por exemplo, as limitações político-econômicas de Estados como Norte e Nordeste, que, em geral, possuem poucos festivais ou atividades que mobilizem essas fronteiras, agora podemos acompanhar, de modo virtual, apresentações, exposições em galerias e oficinas com artistas de muitos lugares. Mesmo com grandes perdas no nível da experiência sensorial e de sociabilidade, há um descentramento geográfico no campo da interação humana muito sedutor, mas não menos nocivo.
Ao passo que tem sido possível acessar diversas atividades culturais em grande parte restritas ao eixo sudeste do país, por exemplo, há também um aspecto que modifica radicalmente a relação de fruição do público com as produções artísticas, que é o excesso de conteúdo próprio desses meios de comunicação em competição constante com a produção de sentido e a temporalidade de performances e apresentações online. No caso da produção estética, o elemento da expansão carrega, em si, o elemento da dispersão, fragmentação e da banalização.
Se considerarmos que grande parte dos ataques promovidos por grupos de extrema direita contra produções artísticas no Brasil nos últimos tempos, se deram por meio do uso indevido de imagens e trechos em vídeo de obras artísticas, deduzimos o quão vulnerável a arte se torna nesse contexto de visibilidade. Obras como “La Bête” de Wagner Schwartz ou de “Experimento para (des)ocupação” de Bárbara Santos, para citar apenas dois casos, foram vítimas dessa estratégia de criminalização da política e da arte por meio desses dispositivos.
Outro aspecto que considero relevante de salientar é sobre como operam os regimes de visibilidade no contexto pandêmico com relação ao elemento da distinção e da legitimidade já presentes no campo da arte. Sendo as redes sociais a única plataforma de exposição dos artistas, não estar nas redes ou não criar estratégias de produção nesse contexto é como não existir, revelando processos de exclusão e de disputas no campo. Quais artistas ganham e conseguem sobreviver ou ter mais sucesso com aulas e apresentações online, ou acompanhamento e compartilhamento de processos criativos etc.? Ao que tudo indica, há uma continuidade de aspectos já presentes no campo, mas agora medidos por aparições em lives, quantidade de alunos ou de público em atividades online, número de seguidores, curtidas, etc. Nesse caso, o que muda é o dispositivo. Artistas mais estabelecidos, em contato com redes e instituições mais estabelecidas, continuam predominando no circuito legitimado do mercado da arte, enquanto artistas menos conhecidos se esforçam para manter sua rede ou “alcançar mais seguidores”.
Nesse sentido, é possível pensar que esse momento reforça uma situação de dependência da arte com relação às instituições ou plataformas virtuais já estabelecidas? As produções artísticas mediadas pela internet continuam restritas ao circuito de arte? O “burburinho do teatro” e os encontros presenciais não eram também um lugar de disputa por quem está ou pode acessar esse ou aquele contexto? Quem pode pagar o deslocamento e os ingressos e quem pode pagar internet para ter acesso à arte? Ou, ainda, quais artistas possuem celulares com boa capacidade de armazenamento e que capture bem as imagens para compartilhar suas produções na internet?
Todas essas questões estão presentes no modo como nossos corpos percebem e constroem outras afectibilidades. Mas quais afectibilidades são criadas com a falta de contato físico, com o controle ou a mediação de uma tela? “Tá tudo dominado?” Se pra Foucault a sociedade moderna dá início à biopolítica, em que a dominação ocorre de forma molecular nas subjetividades e em relação com os dispositivos técnicos, estar submetido a esse modo de produção, mediado pelo digital, não é uma forma ainda mais radical de experimentar políticas de controle sobre os corpos? Não seria a relação do corpo com os dispositivos digitais de comunicação a cartografia plena do neoliberalismo?
Nossas informações rastreadas, a vida capturada, o corpo capturado pela luz, pelos algoritmos, pelo excesso de imagens, de palavras, de ideias, enquanto milhares morrem. Os mortos não nos censuram e a vida já banalizada não entende mais a morte pela dimensão humana. Com a pandemia, a necropolítica não age apenas sobre a vida dos pretos nas favelas, das mulheres, das gays e trans e dos povos originários nas florestas; ela age sobre todas as vidas. Não evitar as mortes pelo Covid é tornar todes seres não passíveis de luto para ao mesmo tempo capitalizar a vida precária por meio da crise.
Diversas produções desenvolvidas durante a quarentena fizeram da própria condição de isolamento matéria para dramaturgia das suas obras, como: “Éramos em Bando” do Grupo Galpão, “Onde foi que me meti?” de +Um Coletivo de Arte, ou, “Futuro Fantasma” do Grupo Cena 11. Outros artistas se dedicaram aos Podcast experimentando uma outra materialidade para seus projetos artísticos, como é o caso de “like Bac live” de Flávia Pinheiro. E, há também atitudes de resistência no sentido da linguagem, quando Gregório Duvivier, de forma crítica, opta por chamar as apresentações artísticas na internet de lives e não de peças de teatro. Considero importante, com isso, pensar o quê vale apena aproveitar desse contexto para criação de novas possibilidades de existência, e, à quê é necessário resistir, para que o contexto da pandemia não se torne um pretexto político para sucatear espaços culturais, desarticular lutas ou as artes da presença.
Da mesma forma, docentes dos cursos de dança, em muitas universidades, têm sido compelidos a dar continuidade às aulas, reinventando suas formas de trabalho, e resistindo, ao mesmo tempo, às muitas tentativas de privatização da educação pública por meio do ensino à distância. No caso de professores de dança de escolas públicas ou ONGs, a situação tem sido ainda mais precária, pois, a maioria dos estudantes não possuem computador, bons celulares, boa internet e o espaço da casa é quase sempre muito limitado e disperso. Esses educadores conduzem suas aulas dividindo as turmas em pequenos grupos de até quatro pessoas para administrar e acompanhar os estudantes, ou precisam, assumir turmas muito grandes de modo virtual, se esforçam para lidar com essa condição a partir de jogos coreográficos, compositivos e muito diálogo. Entre outras ações, esses profissionais ajudaram, até mesmo, na distribuição de alimentos para seus alunos.
Mesmo diante de tantas dificuldades diversas redes de produtores de arte têm conseguido sustentar minimante projetos e parcerias com versões online dos seus festivais e encontros. Ações no Instagram como “Borbulha mine festival virtual”, “Portalmud”, entre outros, tem garantido ainda o compartilhamento contínuo e democrático das mais diversas produções de artistas emergentes ou já estabelecidos no campo. Apesar dos relatos de amigos que nesse contexto se endividaram ou precisaram voltar a morar com a família porque simplesmente não conseguiram se manter com suas atividades artísticas, há um campo de re-existência permanente entre os artistas.
Ações como o Projeto CO-VID-A “100 mil segundos de dança pela vida”, concebido pela artista Valéria Vicente, do qual tive o prazer de fazer parte, pode ser destacado como uma ação sem fins lucrativos e de grande relevância para pensar os meios pelos quais a arte é capaz de convergir forças e agir de maneira coletiva e solidária frente ao descaso do governo com relação aos milhares de mortos pelo Covid no Brasil. Esse projeto que reuniu mais de 30 artistas de diferentes Estados, engajados numa performance de longa duração – “um segundo de dança para cada vida interrompida” totalizando 28 horas de performances online gratuitas – foi uma experiência radical do processo de construção de uma proposta artística em isolamento social e por meio virtual.
A partir de reuniões online refletimos sobre o contexto, encontramos palavras-chave e elementos que poderiam fazer uma ligação dramatúrgica entre as performances. Numa parceria com um artista audiovisual, André Dib, descobrimos a melhor plataforma para realizarmos nossa ação. Ensaiamos nossa autonomia em relação à organização do espaço, da performance e do uso de equipamentos para controlar passagem de som, iluminação e enquadramento de imagem de modo a acumular funções. Como num festival, as entradas e saídas, ou, a simultaneidade das performances se deu pela mediação de telas no streamyard, onde apenas três pessoas revezavam a administração da plataforma; a coxia era algum espaço da casa e as salas de bate-papo online.
Experimentamos uma outra lógica de trabalho, do delay, da imprevisibilidade de ruídos de som e falhas na imagem como terreno para criação. Era uma apresentação ao vivo, sem a presença física do público ou mesmo da uma equipe de luz, som ou câmera. Cada performance durava de 30 minutos até 2 horas, a marcação desse tempo era imprecisa e ao mesmo tempo cronometrada. Minha dança, que também foi uma luta, parecia em muitos momentos solitária, era como dançar num teatro vazio, a todo momento era necessário pensar no porque daquele acontecimento e nas muitas pessoas envolvidas e que por ventura se faziam público à distância. O projeto CO-VID-A foi o modo que encontramos de honrar a memória dos mortos e transmutar em arte a crise sanitária e política vivida por nós. Ritualizar por meio da dança e da performance as mais de cem mil mortes foi afirmar que nosso corpo pode ser uma arma carregada de empatia, nos mover ao longo de muitas horas foi reiterar que todas as vidas deveriam importar.
Mesmo com todos os ruídos desse tempo, do avanço do neoliberalismo associado à moralidade tradicional num âmbito internacional, ruídos éticos e estéticos, políticos, tecnológicos e biológicos numa dimensão global e local, a arte é capaz de fazer desses ruídos matéria-prima de uma contradança. Mesmo que tomados de assalto por tantas coisas, vamos encontrando estratégias de movimento contra as forças que tentam barrar a vida. A arte como manifestação encarnada do encontro e que converge pautas sociais e estéticas num mesmo movimento pode ser um dos caminhos para reencantar o mundo, porque “cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em seu caminho inevitável para a morte”[8].
Notas de Rodapé
*Esse título faz menção a uma das frases contidas no ultimo trabalho do Grupo Cena 11 intitulado “Futuro Fantasma” e apresentado de forma virtual em 26 de outubro de 2020. Entre outras coisas, esse trabalho “É a manifestação prática do desvio de temporalidades nas quais estamos imersos como coletivos bio-culturais.” Disponível AQUI
[1] Isaura Tupiniquim é artista do corpo, professora e pesquisadora. Licenciada e Mestre em Dança pela Universidade Federal da Bahia, onde também atuou como professora temporária. Doutoranda em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolve pesquisa sobre os ataques e censuras vividos pelos artistas do corpo com o avanço dos movimentos de extrema direita no Brasil.
Para ver mais, acesse AQUI
[2] Para ler mais, acesse AQUI.
[3] Para ler mais, acesse AQUI
[4] BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Editora Zouk. Porto Alegre, 2012, pg. 75.
[5] Aqui faço alusão ao trabalho “Como manter-se vivo” da artista Flávia Pinheiro. Nesse trabalho a artista “investiga a relação do corpo com a tecnologia e a urgência de permanecer em movimento como um procedimento de sobrevivência”. Disponível AQUI
[6] Aqui, me refiro a elite econômica brasileira que ajudou a eleger um presidente que despreza o setor cultural. Diversos autores como o sociólogo Jesse Souza faz uma diferenciação entre a burguesia tradicional que se distingue pelo capital cultural e uma elite emergente que se distingue pelo capital econômico, essa diferença de valores sobre as distinções sociais incluem o modo como a arte ganha ou perde valor no contexto social.
[7] “Todas as propostas deverão ter classificação indicativa LIVRE, com exceção da categoria Exibição de Curtas e Médias Metragens, para as quais a classificação indicativa deverá ser de no máximo 12 (doze) anos”. Retirado de: Edital no 03/2020 – Credenciamento de propostas culturais e artísticas para apresentação, exibição e divulgação na internet “Edital Fernanda Benvenutty” – Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba. Acesso em 25 de Outubro de 2020. Disponível AQUI
[8] “Cérebro eletrônico” (1969) – música de Gilberto Gil