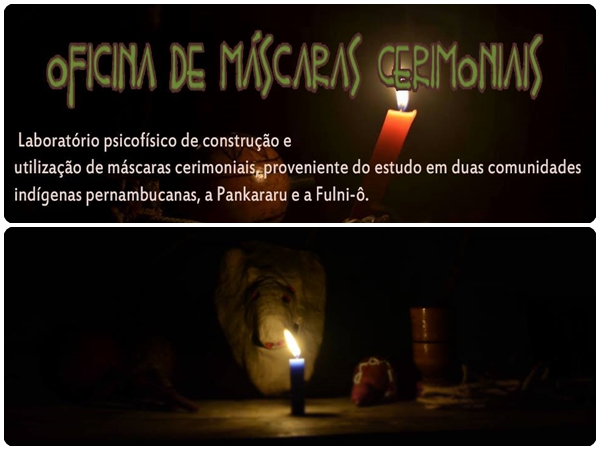#06 Festas e Rituais | A performance dos rituais de iniciação na aldeia Pankararu

Imagens – Arquivo Pessoal e Pixabay | Arte – Rodrigo Sarmento
Por Caio Richard
Mestrando em Artes Cênicas (USP) e Licenciado em Teatro (UFPE)
A necessidade de ressignificar a matéria (corpo) e as abstrações que são consequência dos mecanismos do entendimento, fez com que as sociedades desenvolvessem maneiras de se esvair, criando simbologias para materializar suas crenças, depositando fé na natureza ou/e instrumentos representativos. Transformando as crenças, em meios físicos que possibilitavam a eles rever o vivido. O corpo, sendo o suporte dessa cultura, fundada primordialmente na oralidade é sujeito a diversas metamorfoses. Durante meus estudos na aldeia indígena Pankararu, pude perceber a transformação constante do corpo como elemento principal para a materialização carnal da espiritualidade em seus ritos.
A aldeia Pankararu está localizada entre as cidades de Tacaratu e Petrolândia, no Nordeste brasileiro. É sabido que esses povos são remanescentes de aldeias extintas durante a exploração do período colonial, que, por resistência aos ataques vindos dos povos europeus, os sobreviventes dessas antigas civilizações migraram de vários lugares do Nordeste brasileiro e se uniram, formando novas comunidades que, no decorrer do tempo, foram se reorganizando e se afirmando enquanto culturas indígenas. Essa realidade é vista em quase todas as aldeias brasileiras. Grande parte dos conhecimentos herdados é uma mistura de princípios extraídos de várias culturas nativas diferentes que, pela necessidade da sobrevivência, foram se estabelecendo pela real condição na qual se encontravam.
Tradições orais informam que os Pankararu são provenientes do lugar chamado curral-dos-bois, hoje Santo Antônio-da-Glória, na Bahia, sendo depois aldeados por dois padres oratorianos. Daí, o nome de Brejo-dos-padres. Brejo-dos-padres veio ter, posteriormente, alguns indígenas da Serra-Negra, de Águas Belas, do Colégio do Sertão de Rodelas. Na aldeia, há reminiscências de índios de outros nomes (Genipancá, Ituaçá, por exemplo) (PINTO, 1952).
Segundo Pinto (1952), a presença do corpo com os ornamentos das “máscaras-de-dansa” pode ser visto em uma grande distribuição geográfica, além da comunidade Pankararu. Há evidências desse ornamento entre os Bacaüi, Karajá, Bororo, Uaupé e muitas outras comunidades indígenas brasileiras e em toda a América do Sul. São indícios que comprovam a herança desses rituais em tempos antigos, mas que também nos fazem entender os paralelos dentro dessas comunidades. “É possível que os Pankararus empregassem, principalmente, um simples manto de caroá, semelhante ao curu, que deixaria a cabeça descoberta” (PINTO, 1952, p. 304), mas que no decorrer do tempo, houve a necessidade de ocultar também o rosto. Como a relação histórica/cultural dessas etnias são passadas através da oralidade, é difícil comprovar com certeza as origens desse instrumento, mas existem indícios da presença do uso da máscara em cerimoniais ritualísticos pelos ancestrais indígenas no Nordeste brasileiro, desde a era paleolítica, como mostram as pinturas rupestres em destaque nos estudos de Martin (2013, p. 263).
Comparando as informações coletadas no estudo bibliográfico em comunidades indígenas do Nordeste brasileiro, foi possível perceber que nas situações em que existe a máscara, há também uma entidade, ou um cargo, que significa a imagem da “personagem” manifestada nesse instrumento de adoração, os Encantados, como diz Arruti citado por Marcos Albuquerque (2011, p. 27):
Os encantados são índios que se encantaram, voluntários ou involuntariamente (…) A atuação do encantado no médium é uma relação de irradiação e não incorporação (…) O encantado não é o espirito de uma pessoa, mas sim o espirito de um ser encantado, algo vivo, na natureza e no plano humano, na Terra.
Especialmente na comunidade Pankararu, a máscara dos Encantados são chamadas de Praiá. Todos os elementos da performance, mesmo que de forma inconsciente, são significativos. Usar a palha como matéria-prima para a confecção dessas máscaras mostra-se fundamental para a cultura desse povo por sua existência em abundância no território indígena, sendo encontrada em artesanatos, roupas e esteiras. Dessa forma, o momento em que a máscara é invocada constitui um grande símbolo. O principal ritual em que há a evocação dos Encantados por meio da performance dos Praiá é chamada “Corrida do Umbu”, e só acontece no mês de fevereiro, nos respectivos tempos de chuva e abundância no Nordeste brasileiro, como uma forma de agradecimento aos espíritos da natureza. Há uma série de jogos que abrem o círculo de rituais durante as datas festivas, como relata o antropólogo pernambucano Maximiliano Carneiro da Cunha (1999): o Flechamento do Umbu abre os trabalhos para a Festa do Umbu, uma festa de agradecimento à colheita dos umbus, que, nessa época, estão começando a frutificar. Os preparativos começam logo cedo, com as cantadoras entoando os cânticos que chamarão os praiás. Logo depois, à tarde, começa o flechamento do umbu, em que os índios organizam uma competição para derrubarem um cacho de umbu da árvore umbuzeira. Nesse jogo, o primeiro que conseguir ganha a oferenda que derrubou.

Comunidade Real Parque (SP) na EMEF José de Lacântara | Foto – Luis Almeida | #4ParedeParaTodos #PraCegoVer – Imagem colorida de ritual indígena em que se veem vários homens vestidos com indumentárias feitas de palha que cobrem seus corpos inteiros e segurando hastes semelhantes a cetros de reis, envolvidos com fitas coloridas. Ao fundo, outros índios com os corpos pintados de branco e usando bermudas ou saias de palha.
Outra festividade Pankararu de grande importância para a performance dos praiá, é a Noite dos Passos, que acontece dentro da Festa do Umbu. Essa ação também chamada de A dança dos bichos é auxiliada por um cantador mais velho que, por meio do entoar do mantra, invoca a imitação de animais regionais por parte dos nativos, selecionados anteriormente como função social dentro do rito. Essa imitação é feita como um agradecimento aos praiá pela proteção e diversidade da fauna e da flora regional: cada animal representado por meio da dança tem uma posição e um jeito de se relacionar no espaço especifico a sua própria incorporação – além de haver uma mitologia nas lendas respectivas de cada animal que simbolizam um aspecto da cultura indígena.
Na dança do urubu, por exemplo, enquanto os praiás circulavam o terreiro com os braços abertos, de mãos dadas com suas parceiras, eles faziam um ziguezague imitando o voo dessa ave. Na do cachorro, todos os praiás saem do terreiro, enquanto um dos jovens do grupo entra nele. Esse jovem passa a imitar um cachorro, inclusive brincando com os espectadores e fingindo urinar em suas pernas, para depois sair do terreiro. Certamente, essa é a mais longa das danças desse ritual (CUNHA, 1999).
Outro ritual de grande importância para as festas do umbu é A Queima de Cansanção, um ritual de flagelação com urtiga de cansanção. O ritual inicia com a preparação de cestas contendo oferendas aos encantados, com frutas, bebidas e umbus que foram derrubados nas competições. A preparação das cestas a serem entregues ao final da manhã fica sob a responsabilidade das mulheres, que também dançam no toré[1], geralmente ao meio dia, junto aos mascarados, formando casais com cada dupla de praiá, onde cada um segura um maracá de coité, também alinhados em uma dança circular. Juntos, dançam com grandes ramos de cansanção nos braços, que, pelo movimento da própria dança, causam queimaduras e esfoliações nos corpos dos dançarinos. Ao final da flagelação, jogam os ramos no centro do círculo e continuam a dança, induzidos pela música entoada pelos cantadores.
Há uma série de situações e costumes que envolvem o ritual de preparação para a chegada dos Encantados, os quais não preparam apenas e exclusivamente os “atores/xamãs” a vestirem o ornamento, mas toda a sociedade em um grande centro de atividades tradicionais que, de certa forma, ensinam aos mais novos os segredos e a ancestralidade da cultura de seu povo.
A parte da Antropologia que se dedica ao estudo das manifestações culturais performativas entende esse comportamento como um estudo às ações físicas do corpo em constante transformação cênica. Richard Schecher (2013) descreve os pensamento do antropólogo Victor Turner, sobre a antropologia da performance, como um estudo às expressões sociais que se completam por meio da externalização física das experiências vividas, criando a “performatividade: a capacidade que os seres humanos têm de se comportarem reflexivamente, de brincar com o comportamento, de modelar o comportamento como ‘duplamente comportado’” (SCHECHNER, 2013, p. 40). Formando um drama social, outro conceito desenvolvido por Turner, que identifica uma ação de suspensão na monotonia diária de um grupo, interrompendo suas funções normativas para a formação de um estado extraordinário de convivência, fazendo com que suas experiências se concretizem por meio da representação cultural, ressignificando a matéria em signos que espelham o comportamento cotidiano em uma realidade performática.
Em todas as danças em que as máscaras dos Praiá aparecem, há música presente durante o ritual, assim como o toré também só acontece mediante essa condição. Dessa forma, a performance desse instrumento não acontece separadamente, mas dentro de um conjunto artístico que evidencia o valor híbrido na relação performática nesses rituais, visto que são “os cantadores e cantadeiras quem invocam a presença dos Encantados nas festas e rituais do grupo, sendo por isso bastante respeitados. Eles, cantadores e cantadeiras, têm uma alta posição dentro da sociedade Pankararu, pois são geralmente zeladores de praias” (CUNHA, 1999, p. 101).
Junto ao estado de quebra momentânea cobrada pela intervenção de todas essas atividades que ligam diretamente o corpo a um momento de suspensão extraordinária, existe uma reminiscência herdada pelos antepassados que liga alguns costumes regionais a uma experiência alquímica, causada pelo consumo de substâncias que alteram o estado psíquico em que o corpo se encontra. Essa intervenção externa, mediante uma condição interna, provocada pela própria repetição da dança, invoca um transe tão primitivo quanto a própria manifestação do corpo em espaços cênicos. Lewis (1977) usa uma referência do conceito de transe extraído do Penguin Dictionary of Psychology, que descreve esse estado como uma desassociação consciente por “automatismos” vindos do subconsciente, como uma espécie de estado hipnótico/mediúnico.
Grande parte dessa alquimia também está presente na utilização das máscaras cerimoniais, em que a preparação do xamã que conduz a performance dos Praiá começa antes mesmo da iniciação do toré, em uma cerimônia secreta apenas para iniciados. Esses sujeitos são indígenas que se isolam em um local propício a esse ritual, chamado por eles de poró, onde iniciam os trabalhos espirituais com uso de fumaça, o catimbó – jargão popular para designar a feitiçaria realizada pelos descendentes dos antigos habitantes do Vale do Catimbau – PE. Nesse ritual, entram em contato com ervas e porções sagradas como chá de jurema, feito por meio de uma planta sagrada de grande significação religioso para várias culturas. Funcionando como ápice dos rituais indígenas do Nordeste brasileiro, a jurema, ou Ajucá, trata-se de uma planta regional e de grande concentração de DMT – dimetiltriptamina –, substância psicoativa que altera a condição “adormecida” do subconsciente: “O estado de transe, provocado pela jurema e outros estupefacientes, deu lugar ao uso da palavra ‘ensamado’, também peculiar aos cultos afro-brasileiros no Brasil” (PINTO, 1956, p. 156).
Martin (2013) também cita evidências do uso da planta da jurema durante festividades primitivas em pinturas rupestres no Nordeste brasileiro há mais de dez mil anos, assim como indícios de rituais de iniciação em que crianças também se manifestam na dança dos mascarados. Isso que acontece até hoje na Festa do Menino do Rancho – ritual de iniciação que as crianças do sexo masculino atravessam para se tornarem guerreiros com função social dentro da comunidade. Apesar dos costumes indígenas, na maioria das vezes, também orientarem a divisão social por iniciação hereditária, a iniciação dos novos hábitos de usar a máscara do Praiá não se limita a laços familiares. Segundo os relatos nativos descritos por Alburquerque (2011), os Encantados que escolhem seus “cavalos” aparecem em sonhos e são iniciados por seu zelador que, no ritual do Menino do Rancho, constrói uma equipe com dançarinos de Praiá, madrinhas, padrinhos e uma noiva (simbolizando um casamento, uma passagem do menino para o homem), iniciando, assim, a festividade de forma social.
Os encantados escolhem uma pessoa para zelar por eles, aparecem em sonho, as informam de suas intenções e lhe entregam a semente. Ela é então guardada em um pote e enterrada no solo embaixo da casa do zelador (a pessoa que fica responsável pela guarda e preservação das máscaras corporais dos praiás) (ALBURQUERQUE, 2011, p. 191)
Geralmente, os meninos que recebem os sonhos vindos dos Encantados estão passando por problemas de saúde e são prometidos a essas entidades pelos seus familiares, a fim de curá-los de suas enfermidades. Esse ritual é a materialização performática de uma morte social, que, ao colocar o corpo fragilizado daquele menino no rancho, transforma-o em um símbolo social a ser renascido ritualisticamente, performaticamente, em uma passagem do corpo do menino para o corpo apto a se tornar um homem saudável. Esse homem será um dos representantes espirituais dessa comunidade, aceito socialmente como portador desse ou de qualquer outro cargo dentro da hierarquia Pankararu.
A máscara enquanto estrutura plástica é a representação materializada dos costumes culturais, sendo a sua cerimônia, o ápice da performance social dessa comunidade e um objeto vivo que serve à análise antropológica do comportamento humano e a pesquisas teatrais que se interessem pelo corpo em transe cênico. A partir do momento em que o homem primitivo colocou a pele de um carneiro para representar uma divindade, estava evocando a expressão cênica de suas crenças, em que os impulsos internos se manifestavam na dança dos corpos e se materializavam na representação coletiva e individual.
Ao cobrir o rosto, o individuo está ocultando uma identidade e revelando outra. Quando essa ocultação é fruto de um consenso coletivo, essa representação passa a anular o individual para revelar um símbolo social, funcionando como um instrumento de personificação cultural, um arquivo vivo para o estudo antropológico da performance social do povo que a veste. Para os espectadores dos ritos de iniciação, estas máscaras de dança (que, de repente, se abrem em duas para mostrar uma segunda face e, às vezes, uma terceira) são marcadas pelo mistério e pela austeridade e atestam a onipresença do sobrenatural e a pululação dos mitos. Abalando a placidez da vida cotidiana, esta mensagem primitiva mantém-se tão violenta que o isolamento profiláctico das ‘vitrines’ ainda hoje não consegue impedir a sua comunicação (LÉVI-STRAUSS, 1979).
Esse ornamento reúne a contemplação de sua existência em uma unidade tão primitiva que só a transformação no decorrer dos milênios pôde ressignificá-la à necessidade indígena atual. Sua performance só se completa através do seu uso, a transmutação do corpo que a veste é a necessidade de sua expressão e comunicação com o público que assiste, sua dança mostra a herança coreografada que os antepassados assumiam ao se relacionar com a máscara, uma expressão codificada que só os saberes culturais dessas etnias são capazes de entender. Os nativos se reconhecem durante a significação dada aos seus signos, construindo uma teia de memória que é relembrada a cada manifestação, impregnando assim, a experiência durante as repetições performáticas defendidas pelo pensamento de Turner. Ao se relacionar esse conceito com as ideias de Schechner, pode-se entender como essas experiências contribuíram para o desenvolvimento dos conhecimentos relativos ao performático no fazer social, em como “a performance prometia uma forma dinâmica de entender como as pessoas se relacionam entre si, tanto na vida cotidiana quanto em várias situações especiais (…), um amplo espectro de atividades que vão do ritual ao play” (SCHECHNER, 2013, p. 27).
De fato, a máscara, ao imobilizar uma expressão no rosto de alguém, marca a identidade na qual foi construída, carimbando um determinado significado como passagem para a imortalização de seu símbolo: “A máscara imóvel no rosto de quem fala, se move, gesticula ou dança é a representação do morto que continua a viver e que, por isso, perturba, ameaça, ensina ou protege os vivos” (MATTOSO, 1996, p. 51). É um teatro da morte, um ritual de resistência à lembrança ainda viva, podendo, algumas vezes, estabelecer uma ponte ainda mais direta entre os vivos e os mortos. Essa relação com o passado e o presente espelha a cosmologia social, a hierarquia e as convenções comunitárias da qual os corpos se organizam em sociedade. As marcas dessa convivência são presentes desde a feitura desse instrumento até seu uso, que, na maioria dos casos estudados em comunidades indígenas, apenas o homem é responsável por vesti-la, cabendo às mulheres apenas sua a confecção, em alguns casos.
O fato desse objeto ocultar o rosto, traz mais liberdade às expressões. A máscara é um escudo ideológico que permite a “fala” em nome de outros, dos antepassados, dos mortos, transformando o mascarado em um ser possível de encarnar os personagens de seus antepassados. As cerimônias mediadas pelas máscaras
São também rituais que colocam a comunidade numa espécie de vivência colectiva da situação em que simultaneamente a morte e a vida se unem e se separam, em que se celebra a decomposição corporal e social trazida pela morte em que se atribui a essa decomposição um caráter fecundante (MATTOSO, 1999, p. 57)
É a incrível capacidade de estabelecer essas convenções que fazem do homo sapiens um ser de grande complexidade, mas o que está em evidencia aqui consiste no poder de performar o comportamento humano, criando uma reflexividade sobre a experiência da vida, duplicando as ações em estruturas tão subjetivas que só a arte é capaz de abraçar sua condição física. Segundo Schechner (2013), a catarse durante o transe em uma performance é capaz de codificar o apreendido e transmiti-lo nos genes por várias gerações, o ritmo, a dança e a música são elementos em potencial para o armazenamento dessa experiência, em que o conhecimento é “encorporado”, sai de uma experiência vivida e ganha uma intersubjetividade posta à matéria.
O fato da máscara incorporar na biologia corporal um meio plástico de significação e modificação corporal, expressa uma necessidade física de expurgar um corpo extra-humano, que, de alguma forma, se completa durante as ações performáticas de sua dança e espelha o comportamento social de sua cultura. Por meio da proteção à identidade, oculta uma singularidade psicológica e revela a manifestação ancestral na “dança dos mortos” para os vivos.
Referências
ALBUQUERQUE, Marcos. O Regime imagético Pankararu (tradução intercultural na cidade de São Paulo). Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.
CARNEIRO DA CUNHA, Maximiliano. A música encantada Pankararu (toantes, toré, ritos e festas na cultura dos índios Pankararu). Dissertação (Mestrado em Antropologia Cultural). – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999.
LEWIS, Ioan. Êxtase religioso. São Paulo: Perspectiva, 1977.
LÉVI-STRAUSS, Claude. A via das máscaras. Lisboa: Presença, 1979.
MATTOSO, José. As máscaras: o rosto da vida e da morte. In: BARROCA, Mário Jorge (Coord.) Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 51-61. Acessado em: 02/09/2015
MARTIN, Gabriela. Pré-história do Nordeste brasileiro. Recife: Editora Universitária, 2013.
PINTO, Estevão de Menezes Ferreira. As mascaras-de-dansa dos Pancararu de Tacaratu – [Remanescentes indigenas dos sertoes de Pernambuco]. Journal de la Société des Américanistes. Tome 41, n°2, p. 295-304, 1952.
PINTO, Estevão de Menezes Ferreira. Etnologia Brasileira: Fulnio – os últimos Tapuais. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956.
SCHECHNER, Richard. Pontos de contato revisitados. In: DAWSEYM, John C. et al. Antropologia e performance: ensaios napedra. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.
Notas de Rodapé
[1] O termo, toré, descende de um jargão indígena popular e é usado para designar danças circulares realizadas em festividades ou cerimonias religiosas.