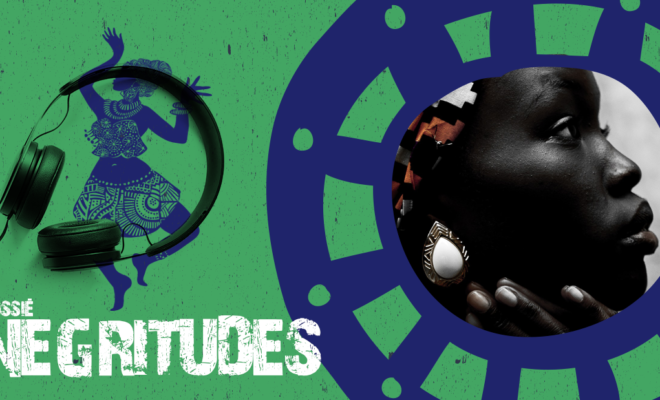#13 Negritudes | Poses Imundas – A dança e o portrait fotográfico das bixas-pretas do funk carioca

Imagem – Rodolfo Viana| Arte – Rodrigo Sarmento
Por Rodolfo Viana
Doutorando em Comunicação (UFF) e Mestre em Artes da Cena (UFRJ)
Isso aqui é um vestido da Maria Queixa. Entendeu?
Me atura. Sabe quanto custa um vestidinho da Maria Queixa?
Me atura, eu não sou mulher, a realidade é essa.
Eu não sou mulher.
Mas não me comparo a nenhuma.
Olha pra mim, eu sou bela.
Eu ganho.
Foca.
Foca aqui na Dara Chrislayne.
Foca no traje de hoje.
(Dara Chrislayne)
Exposta na epígrafe, a fala de Dara Chrislayne, que ficou popularizada a partir de sua notoriedade como youtuber, é meu ponto de partida para apresentar esta discussão. O que é possível entender de seu vídeo é que Dara é uma pessoa LGBT que está saindo do Baile do Jacaré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Com seu gestual exagerado, tanto no início quanto ao final da filmagem, Dara exibe, com a câmera do celular, seu belo corpo – o que me leva a crer que seguir essa descrição da saída do baile apenas pela minha perspectiva seria injusto com Dara. Afinal, ela se empenha em mostrar seu corpo com desenvoltura – e não faria sentido se você, leitor, não assistisse ao vídeo.
Há também outra fonte, por assim dizer, que procuramos não perder de vista: o corpo. Por essa razão, esforço-me em sistematizar, em algum nível de tradução, aquilo que vejo ou conheci, em alguma medida.
O que chama nossa atenção no vídeo é como Dara trata a sua própria vestimenta e demais visualidades corporais. Sua fala é emblemática para fragilizar a já precária sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis) – à qual se poderia acrescentar a letra Q, de ‘queer’, para tentar assegurar que ela não se tornasse datada tão rápido.
Mas, ainda assim, não há categoria para dizer quem é a pessoa do vídeo sem que se ouça sua própria fala: “eu não sou mulher. A realidade é essa […], mas não me comparo a nenhuma”.
Outra possibilidade de nomear os personagens deste ensaio emerge de uma das entrevistas feitas durante minha pesquisa de mestrado, quando Wallace Louzada, o Wall, afirmou: ‘as gays já dominaram tudo’ – ‘as gays’ significando, aqui, todo aquele(a) que manifeste alguma sexualidade ‘transviada’. Em outros regionalismos fora do Rio de Janeiro, temos as bees, as amapô, também com significados semelhantes.

Wallace Louzada | Foto – Rodolfo Viana | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem colorida de perfil de um jovem negro com cabelos curtos, camisa regata branca e tatuagem nas costas.
As tentativas de categorizações são excessivamente restritivas. No entanto, a questão não é sobre ser ou não ser excludente, mas sobre perceber que apenas uma letrinha é suficiente para expor a trama de poder que está em constante disputa.
Ora produzem inclusão, ora deixa escorregar outras, sem que se note. O que proponho é fazer ver o encontro entre as categorizações na forma de coalisões abertas, como já está mais que sublinhado por Butler (2017 [1990]). É o que passei a chamar e entender como pessoa negra e LGBT.
Jovens de nosso tempo, entre 20 e 30 anos, apelidados por alguns de geração tombamento, fazem-me olhar para os elos que podem promover suas categorias nativas, tais como: pintosa, close, lacre, carão, afronto e coió – que, por sua vez, oferecem um cenário de embates, um lugar de fala, construção de vaidades, erotismos e violências a partir da criatividade e estética funk (MIRZAHI, 2014).
Talvez o tal ‘x’ que tanto reivindicam um lugar para o gênero neutro, seja o ‘x’ da Linn da Quebrada, da música da BiXa-Preta. Esse ‘x’ não tem muito lugar na sopa de letrinhas, mas deixa as categorizações se fundirem, em movimento, tornarem-se outra coisa, ou simplesmente, permitir fluir em imundícies. Ser algo na medida que também se é outra coisa.
O imundo é o assumir de uma existência subalterna. Há uma potência conceitual deste termo de forma epistemológica, do latim immundus, que assume o sentido de ‘sujo’ ou ‘impuro’ a partir da formulação im- + mundus indicativa de ‘fora do mundo’.
Com origem no mito da fundação das cidades romanas, este termo revela que, na configuração urbana, existia um ponto central que privilegiava locais como o palácio do imperador, conhecido como mundus. O imundo, sem polos de oposição, assume para si aquilo que está ‘fora’ como algo que pode existir sem que seja esterilizado.
Nas minhas pesquisas sobre funk carioca, tomo de assalto esse imundo como uma torção performativa para perturbar as vistas de quem lê. É a bixa-preta pintosa da favela, a fusão das tensões de raça, classe e gênero que são pulsantes, tais como o cabelo afro que é assumido, a roupa repaginada e reaproveitada, o ruído do pancadão do som do funk, e esse enorme lugar da música popular periférica, que ganha visibilidade e produz afrontas com o próprio corpo.
No funk, atualmente, se apresenta de forma visceral e muito clara a incorporação de lugares de fala da pessoa negra e LGBT. Incorporação, corpo-ação, no sentido pleno do termo, pois os atos de fala, além das músicas, estão estendidos em seus corpos. Letras cada vez mais atrevidas, com bordões e termos que, antes, eram apenas restritos aos guetos, mas que, no momento atual, disputam espaço no universo de legitimidade pelo qual o fenômeno do funk ainda luta enquanto gênero musical.
Para além das discussões sobre a inclusão das pessoas LGBT em direitos civis mais objetivos, como casamento, divórcio, nome social, a inclusão que abordo se refere a uma maior solidez simbólica nos espaços de lazer, afeto e socialização. Trata-se da inclusão no ver, no olhar à imagem do outro, na cultura visual que não está restrita ao gueto, seja pela diluição dos polos de difusão de informação, mediante canais que falam de todos para todos, seja pela circulação física não restrita a um único lugar, em uma cidade tão demarcada por territórios como o Rio de Janeiro.
Importante lembrar que não falo apenas da dicotomia entre heterossexuais e ‘as gays’, mas ‘das gays pras gays’. Entra aqui o corte de classe e raça que cria um abismo simbólico entre a Zona Sul da cidade, com a qual o imaginário do Rio de Janeiro ainda se identifica, e o subúrbio, marcado pela marginalidade em todos os sentidos do termo.
Talvez para mim, enquanto LGBT, essa dicotomia seja bem pulsante para pensar questões, pois se trata também do meu lugar de fala e de minhas zonas de confrontos simbólicos. Também de um negro observando outros negros. De uma gay debatendo com outras gays. De um favelado dialogando com outros favelados. Já que assim me configuro, foi possível produzir esse ir e vir enquanto carioca.
Na minha pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena (ECO/UFRJ), sob orientação da prof. Dra Elizabeth Jacob, inicialmente, havia duas grandes coisas que me inquietavam: a imagem do funk e as fotografias. Esta inquietação me surgiu pela minha atuação como fotógrafo em um veículo de comunicação importante aqui do Rio de Janeiro – a Rádio FM O Dia –, onde era possível passar horas com MC’s, funkeiros de diferentes “portes” e estruturas.
Circular por backstages, produzir conteúdos voltados para a audiência e engajamento nos canais da rádio. Neste veículo, minha função era uma mistura de repórter fotográfico com produtor de conteúdo, que se tornou imunda às minhas percepções acadêmicas e autorais.
Nessas minhas vivências, notava a forte e marcante presença de pessoas negras e LGBTs em territórios marcadamente heterossexuais, em casas de shows em bairros tão distintos como Barra da Tijuca (Barra Music) e Campo Grande (West Show), na rodovia Washington Luiz (RioSampa), na cidade de São Gonçalo (R9) e diversos outros lugares importantíssimos, como Madureira.
Foi circulando por esses lugares levado pela rádio, ou por conta própria, que fiz um primeiro apanhado de imagens, uma espécie de série, aproveitando meu lugar privilegiado, tanto de olhar quanto de escutas, que chamei de Behind the Funk (acesse AQUI)

Valesca Popozuda e bailarino em apresentação | Foto – Rodolfo Viana | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem em preto e branco de mulher branca com cabelos loiros e longos cantando com microfone na mão. Ela é abraçada por um homem negro careca que usa uma camisa regata.
Essa vivência, que começou em 2013, me trouxe uma visão de alguns interstícios do “mundo funk carioca”, termo de Hermano Vianna, com minhas sensibilidades e meus modos de olhar para o funk. Eu estavam dentro da ‘caixa-preta’ que todo pesquisador que vai a campo quer estar e com plenos acessos.
Nesse estudo interdisciplinar, dialoguei com pesquisadores como Adriana Lopes (acesse a tese Funk-se quem quiser – No batidão negro da cidade carioca AQUI), Milena Mizhari (acesse a dissertação A Estética Funk Carioca: criação e conectividade em Mr. Catra AQUI) e Mariana Gomes Caetano (acesse a dissertação MY PUSSY É O PODER – Representação feminina através do funk: identidade, feminismo e indústria cultural AQUI), além dos clássicos de Hermano Vianna e tantos outros, é o caso das turmas da comunicação, que oferecem ideia da cultura pop na cena funk.
Então, mais do que uma ‘quase óbvia’ defesa da importância do estudo do funk como um processo cultural complexo, procuro entender como a relação com o funk mobiliza afetos e pertencimentos, explorando a potência estética que o gênero pode oferecer. Nesse sentido, foi fundamental produzir diálogos com alguns artistas visuais que também foram arrebatados por essas sensibilidades. É o exemplo marcante de Dani Dacorso, primeira fotógrafa a construir um trabalho autoral positivando o funk, em 1998, com a série ‘Totoma!’, feita ainda em película.

Imagem do ensaio ‘Totoma!’ | Foto – Daniela Dacorso | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem em preto e branco de baile funk em que uma mulher se agacha no palco e vários homens a observam
Enquanto os portais atuais discutiram se ‘Vai Malandra’, pode ou não pode, trazer brasilidades com ‘Z’, as dissidências dessas imagens do funk já faziam orbitar as tensões no passado. Quando a exposição ‘Totoma!’ foi exibido no exterior, houve uma tensão enorme entre o curador e o embaixador brasileiros na Holanda, pelo fato deste afirmar que as imagens não eram representativas do Brasil.
Nesse sentido, os conservadorismos e caretices criam veto ou exotizam excessivamente esse popular bastardo, envolvendo-o em uma moral esterilizante, criando ressalvas, propondo higienes e negociações que abrandam aquilo que os olhos das pulsões de branquitude temem ver. Tenta-se criar ressalvas e anteparos à tudo aquilo que propõe imundices.
Nesse sentido, o imundo transfere e apreende essas tensões nas imagens. É pela a existência dessas imagens que há uma reivindicação mutua em direção à existência dos sujeitos que nelas estão. São em trabalhos onde o tema central não esquiva da rostidade, do corpo, da pele e da ação.
As imagens dos artistas Daniela Dacorso (acesse AQUI), Vincent Rosenblatt (acesse AQUI), Maria Buzanovsky (acesse AQUI), travaram e travam, embates em exposições e mostras que não se pretendem higienizantes, ou seja, um constante ‘bater de pé’, em direção a afirmação das imundices. A presença e a circulação das imagens levam consigo toda a carga de tensão que o mundo funk engendra, mas enquanto aliadas, dissidentes e à contrapelo da cultura dominante.
No meu período no PPGAC, repensei minhas primeiras inquietações e trouxe à tona um trabalho autoral que havia desenvolvido antes da entrada no mestrado: uma série de ensaios fotográficos. Esse meu envolvimento fora das alcunhas comerciais foi ganhando força e se misturando às minhas percepções do tema de pesquisa até que se tornaram indissociáveis.
Depois disso, senti vontade de produzir um trabalho mais processual, mais lento, que assumisse a lógica do ensaio. Aliás, o termo ‘ensaio’ em fotografia precisa de uma constante massagem cardíaca para resistir ao que se propõe – ensaiar. Ao buscar esses ensaios, iniciei uma bateria de encontros e trocas, com seis rapazes. Foi com Jhury Nascimento, Wallace Terra, Wall Louzada, Lucca Machado, Lucas Gabriel e Jeffin Piccian que, ao longo de quase 3 anos, forjou-se o trabalho Poses Imundas (acesse AQUI)
Intencionalmente, busquei, tanto na dissertação quanto nesse processo autoral, trazer ao centro do trabalho aspectos da cultura visual do funk: os debates e embates que oferecem nuances para os regimes de visibilidade e terminam aprisionando as percepções sobre esses sujeitos.
Durante a pesquisa, refleti sobre fusões artísticas e outras maneiras de ver o corpo negro, investigando trânsitos entre linguagens artísticas como fotografia, a performance art e a dança. Esse ato de tratar das imundices, a partir das poses em portraits fotográficos, norteia a minha crítica autorreflexiva dos processos artísticos contemporâneos que versam sobre as manifestações culturais herdeiras da diáspora negra. Não somente aqueles ‘passíveis de legitimação’, mas aquelas que são complexas e paradoxais como a cultura popular massiva.
Em linhas gerais, o corpo da pessoa negra, que está sob múltiplos vetores de força na cultura popular carioca, é sedimentado por uma diversidade de movimentações, performances e marcadores sociais, em uma noção de coreografia, conforme trabalhada por Lepecki (2003; 2005; 2011; 2012) no campo da dança.
Defendo que a pose observada por Teresa Bastos (2007; 2014) ocorre de modo semelhante no portrait – pois tanto a ideia de dança quanto a pose são debatidas, para além do movimento em si, de forma política e estratégica. O que Lepecki (2011) chama de coreopolícia e coreopolítica onde a ideia de coreografia em noção expandida é capaz de acionar a pluralidade social, política, econômica, linguística e estética de um fenômeno.
Almejo que tanto a expressão artística do gênero portrait em fotografia, tratada na tese de Teresa Bastos (2007), quanto a ideia de performance art, a partir de Eleonora Fabião (2013), sejam motores potentes, colocando em cena tanto o corpo do fotógrafo quanto o do fotografado, em experiência mútua. Nesse sentido, a performance aparece como elemento agenciador da participação que se estabelece no duo modelo-fotógrafo, muito característico do histórico gênero fotográfico portrait.
O trabalho autoral Poses Imundas, cria um deslocamento da ideia de plano de composição (LEPECKI, 2012) em dança para um plano de composição na pose, permitindo que levemos em conta um elemento fundamental na ideia do autor – o chão – que quer dizer a própria história.
Em Chão de Lepecki (2011), creio que há uma incrível semelhança ao chão convocado nas letras de funk. Acredito que trata-se de um lugar onde se dá a composição de diversos fatores, “um atentar agudo às particularidades físicas de todos os elementos de uma situação” (Paul apud Lepecki, 2011, p. 47). Essas particularidades se assentam no chamado – plano de composição – que como o nome diz irá compor a relação do corpo com este chão.
O que advogo que é tanto o portrait como a dança podem ser debatidos para além do movimento cinéticos de sua composição, mas de forma política e estratégica, é nesse sentido, o enfrentamento aos embates na captura de imagens quando o tema é o corpo da pessoa negra e LGBT, é o assumir que corpo é uma arena de disputa ao longo dessa história que se passa no chão (leia mais AQUI).
Estão em jogo nesse chão as vaidades, os erotismos, as violências, as autoapresentações, os jeitos do corpo, a forma de dar-se à ver em público. Aquilo que deixa explícito o que é igualmente fútil e fundamental, em simbiose, reciprocamente complementar na chamada cultura pop (leia mais AQUI) .
Mais uma vez, a pulsão das poses imundos, que em outras palavras, vai propor com nuances um modo de ver, de existir, de estar também nas imagens. Afinal, como diz Dara Chrislayne: ‘olha pra mim, eu sou bela”.
Referências
BASTOS, Teresa. O Retrato Fotográfico entre a pose e a performance. Pará. XXIII Encontro Anual da Compós. Universidade Federal do Pará. Maio. 2014.
________.Uma investigação na intimidade do portrait fotográfico. Rio de Janeiro, 2007. Tese (doutorado), PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro. 13º Ed. Civilização Brasileira, 2017.
LEPECKI. André. Planos de Composição. In: Cartografia Rumos Itaú Cultural Dança 2009-2010 (orgs.) Christine Greiner, Cristina Espírito Santo e Sonia Sobral. São Paulo: Itaú Cultural. p.12-20. 2012.
________. Coreopolítica e coreopolícia. Ilha. v. 13. n. 1. p. 41-60. jan./jun. 2011.