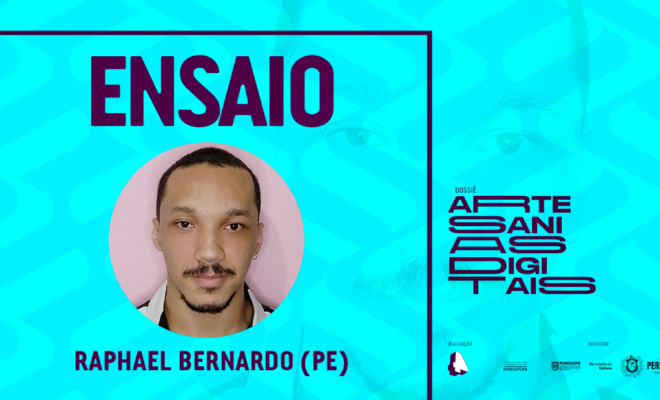#16 Urgências do Agora | No universo das lives – O público e o privado em tempos de pandemia

Arte – Rodrigo Sarmento
Por Cyro Morais
Artista-pesquisador do Coletivo Lugar Comum (PE) e do Teatro Oficina Uzyna Uzona (SP)
No início do mês de março deste ano, voltei para São Paulo, depois de passar férias em Olinda, cidade onde cresci e mora minha família. Essa tem sido uma constante nos últimos cinco anos, desde que me mudei para a capital paulista em busca de outras referências artísticas e entrei para o Teat(r)o Oficina.
Nem sempre consigo ir mais de uma vez ao ano para Olinda, mas, como bom pernambucano, e respeitando uma tradição familiar, a viagem para o Carnaval é sagrada. Nesse tempo em que moro em São Paulo, só não passei as Folias de Momo uma única vez em Pernambuco, porque estávamos em cartaz no Teat(r)o[1] Oficina com Bacantes e eu, substituindo outro ator, faria meu primeiro personagem, o Segundo Mensageiro, aquele que narra a morte de Pentheu no terceiro e último ato da peça.
A minha vida no Oficina se confunde com o tempo em que estou morando em São Paulo. Quando já havia decidido me mudar, mas ainda estava me preparando para a viagem, soube da seleção que estava acontecendo para a segunda dentição da Universidade Antropófaga[2]. Fiz a seleção e acabei sendo aprovado. Com pouco mais de um mês, já estava participando de atividades diárias no Oficina.
Cinco anos depois dessa seleção, estava, mais uma vez, voltando depois de passar férias e o Carnaval em Olinda, porque já tínhamos agendadas no Teat(r)o Oficina uma temporada de Roda Viva, aos sábados e domingos, e uma d’O Bailado do Deus Morto, de Flávio de Carvalho, às sextas-feiras. As duas peças já haviam tido temporadas anteriores, de bastante sucesso inclusive, e essa viagem parecia mais uma das diversas voltas ao trabalho naquele templo do Teat(r)o.
Para minha surpresa, fizemos apenas a estreia dO Bailado na sexta, após um dia de acirradas discussões nos nossos grupos do whatsapp da companhia, com muitos argumentos contrários à realização mesmo desta primeira e única apresentação. Estava iniciada a quarentena gerada pela pandemia de Covid-19, que deixaria não só o Oficina, mas boa parte dos teatros do mundo fora de atividade por meses.
O vírus da criação é um dos mais contagiosos que existem. Mas é um micróbio que traz à vida
Os dias que sucederam o início do isolamento foram um tanto quanto agoniantes. A companhia vinha, num período de quase dois anos, vivendo, basicamente, da bilheteria de seus espetáculos. Fazia tempo que não aprovávamos nenhum edital. Desde 2016, não contávamos mais com patrocínio da Petrobrás. Deixamos naquele ano de ser financiados junto com mais de 10 outros grupos importantes do cenário cultural brasileiro que recebiam recursos da estatal. Foi também em 2016 que começou o grande desmonte da cultura no nosso país.
Desde aquele ano, nos reinventamos – como tem sido de praxe dessa companhia ao longo dos 62 anos completados no último dia 28 de outubro – : criamos uma plataforma de financiamento coletivo exclusiva, estreitamos conversas e negociações com produtores importantes para conseguir viajar com nossas peças e gerar dinheiro; transformamos em relíquias do Oficina tijolos do muro do teatro derrubados por Cesalpina (árvore que nasce dentro do teatro e lança sua copa para fora dele), durante uma tempestade, para serem adquiridas por colecionadores; fortalecemos nosso canal com o SESC, que, como Zé gosta de dizer, tem feito as vezes de Ministério da Cultura, sendo o maior investidor do setor cultural no país; e com o Itaú Cultural, com quem também temos um ótimo diálogo. Essas duas instituições tiveram papel importante bancando as estreias do Rei da Vela e de Roda Viva (RV1 e RV2)[3].
Roda Viva foi um sucesso de público desde a estreia, com casa cheia, fila de espera e ingressos esgotados até a nossa última e histórica apresentação no encerramento do Festival Sem Censura, dia 31 de janeiro, no Theatro Municipal de São Paulo.
Os dias depois daquele 13 de março, com uma única apresentação d’O Bailado, foram agoniantes porque nós, que vínhamos num embalo de finais de semana cheios de público, exercício pleno do teatro e conseguindo pagar nossas contas – pessoais e da companhia – com bilheteria, de repente, nos vimos de pés e mãos atados.
O Oficina é um organismo robusto. E que, exatamente por isso, demanda bastante alimento para se manter vivo.
Somos quase 70 atuadores na companhia, entre artistas da cena e da técnica. Uma enormidade. Um corpo gigante, composto por células que ficaram paralisadas por um tempo com a notícia de que não haveria mais espetáculos.
Manter o Oficina funcionando custa muito caro. Até o início do isolamento, a companhia contava, além do prédio do teatro, na rua Jaceguai, 520, com mais 2 imóveis alugados. O Teatro precisa de vigilantes 24 horas, e de Rose, uma dessas entidades-tesouro da companhia, que zela pelo teatro. Todos pagos pela companhia.
Com a casa de produção, localizada numa sala na Major Diogo, onde guardávamos documentos, programas de peças, material de divulgação, alguns figurinos; o depósito na São Domingos, onde guardamos cenários e outros figurinos de peças antigas do repertório. Cada um desses imóveis tem aluguel e impostos próprios. Sem o dinheiro das bilheterias, não conseguimos arcar com estes tributos e a casa de produção foi despejada durante o lockdown. Ficamos sem escritório de produção e tudo que havia lá foi levado para dentro do teatro.
O que fazer agora? O que fazer com o agora?
Para quem teve a oportunidade de assistir a algum espetáculo do Oficina Roda Viva é uma peça que leva esse olhar para o agora ao extremo), existe uma atualização das peças, muitas vezes, com inserção até de cenas inteiras para contar algo que aconteceu naquela semana. Tem dias que, num mesmo fim de semana, a peça muda mais de uma vez.
Como as nossas peças são macumbas para ‘virar’ o que quer que acreditemos que precise ser transformado no planeta, Zé y nós, atuadores, fazemos das personagens do texto ‘vudus’ das personas da atualidade do Brasil, e do mundo e qualquer fato novo na vida delas vira elemento novo na peça. Foi assim com Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Moro, Dallagnol, as ministras Damares e Tereza Cristina (conhecida como Miss Veneno). Macumbamos a queda, as aceitações, a volta à consciência e até a redenção deles durante as centenas de sessões de Roda Viva.
Então, acostumados a lidar com ‘instante-já’, o que faríamos com a realidade que estava posta diante de nós. Atuadores da arte do encontro sem poder aglomerar?
Bárbaros tecnizados?[4]
Como caminhamos a partir desse desafio que se colocou à nossa frente? Apesar das resistências de alguns, precisaríamos avançar, comendo das ferramentas que estavam disponíveis.
Algumas semanas depois da suspensão das temporadas, iniciamos encontros pelo zoom para mantermos o contato, saber como cada um estava de saúde, matar saudades e mais do que tudo traçar estratégias de (re)existência durante a pandemia. Como disse antes, fazia tempo que a companhia se mantinha viva sem patrocínio, utilizando diversas formas de conseguir recursos, mas a principal nos últimos anos era, com certeza, a bilheteria dos espetáculos.
Sem poder realizar as peças com público, cogitamos todas as possibilidades, de forma a nos manter ‘em cena’ e fazer com que as pessoas comprassem ingressos, fizessem doações, comprassem tijolos da coleção etc.
Roteiros, roteiros, roteiros…
Iniciamos conversas sobre que textos gostaríamos de ler juntos. Isso nos manteria conectados, nos encontrando, mesmo que virtualmente; e com isso ainda teríamos uma obra já estudada para uma possível montagem futura.
Depois de algumas conversas, Artaud apareceu como uma opção. Lembrou-se de um tempo, por volta da década de 90, em que a companhia também passava por dificuldades financeiras e Pra Dar um Fim no Juízo de Deus, de autoria dele, foi a peça escolhida na época, por ser algo que poderia ser feito apenas com o corpo e suas partes: merda, sangue, porra, suor. Nós, do Oficina de agora, sentimos que havia conexões entre os dois momentos da companhia e seria interessante reler e remontar Artaud.
Além disso, a esta altura, algumas companhias já estavam se aventurando no teatro online, fazendo peças com utilização de plataformas de videoconferência ou mídias digitais, e começamos a pensar que, caso a pandemia durasse mais tempo, poderíamos pensar em uma versão da peça para o zoom. Marcelo Drummond, ator mais antigo da companhia, e diretor dessa montagem, nos lembrou que a Pra Dar Um Fim… é uma peça radiofônica, originalmente, e que o Oficina já havia feito uma gravação para a rádio USP há décadas.
Apesar de ele mesmo dizer que essa versão radiofônica havia ‘ficado uma merda’ (ele participou dela e, sim, somos muito contraditórios), insistimos na ideia e fizemos um podcast da montagem que está no Spotify, Youtube [5]e outras plataformas para quem quiser conferir e tirar suas próprias conclusões. Na minha opinião, acho que conseguimos um resultado bastante interessante. A trilha, as paisagens sonoras e atuações deixaram o texto muito vivo e ainda mais atual.
Em paralelo a isso, pensamos em outra estratégia. Companhias de repertório do mundo inteiro estavam disponibilizando seus espetáculos online de maneira gratuita. Pensamos que esta seria uma maneira de estar em cena com o nosso público. Combinamos que faríamos lançamentos das peças no nosso canal do Youtube, a TV Uzyna[6], e que o elenco estaria ao vivo durante as estreias, interagindo com o público por meio de comentários, respondendo perguntas etc.
E assim fizemos.
Ao longo dos lançamentos, a saudade de também reproduzir o ambiente da coxia foi grande. A cada estreia, criamos também uma sala no zoom, onde interagíamos só entre nós. Conversávamos sobre quem estava bem naquela personagem, como adorávamos aquela música, mas como tinha sido difícil de ensaiá-la, como Zé tinha malhado aquela pessoa durante a criação daquela cena.
Ao final de um desses zooms que duravam até três horas, pensávamos em outras formas de chegar mais nas pessoas. Foi aí que Camila Mota, atriz e grande força motriz da companhia, aquariana, propôs que fizéssemos lives. De início, as opiniões entre nós foram diversas. Muitos já falavam sobre não gostar do formato, que era chato, não favorecia nada artístico, caía muito, o som era péssimo. Mas em algo concordávamos: as pessoas estavam assistindo. E, talvez por isso, valesse tentar.
Vínhamos de um processo com Roda Viva (e da história do país) em que se fazia necessário questionar a existência de um “Messias”, daquele que é a única voz de um grupo, a esperança ou aquele que, sozinho, é capaz de resolver a situação de uma coletividade. Além do texto de Chico Buarque que fala sobre isso e por ser uma peça que ficou muito tempo em cartaz, Roda Viva contou com muitas substituições e vimos que cada atuador e atuadora que substituía trazia contribuições tão incríveis quanto aquele que era o ‘titular’ do papel ou era tido como virtuoso e insubstituível.
Inspirada por isso, Camila falava que as lives seriam uma ótima oportunidade de dar espaço para as outras vozes da companhia, além de Zé. Afinal, para que conseguíssemos que as pessoas investissem no Oficina, seria interessante que elas conseguissem ver que o Oficina é muita gente. Há muito talento ali. Ela disse ainda que um norte para decidir fazer uma dessas conversas ao vivo seria escolher alguém da companhia com quem você tivesse vontade de trocar uma ideia sobre o trabalho.[7]
“Cyro, por que você não chama o Pascoal para uma live?” Me provocou Camila, referindo-se a Pascoal da Conceição, ator da companhia que admiro muito e com quem já tive diversas experiências marcantes. Além de sermos ambos atores negros em uma companhia predominantemente branca, tive a honra de, em montagens diferentes, fazer os mesmos personagens que ele. Uma dessas ocasiões se deu com o Segundo Mensageiro na peça Bacantes (meu primeiro personagem no Oficina).
Durante essa montagem, ele atuaria como Kadmos, mas fez questão de trazer seu texto com as anotações de quando fez o mesmo personagem que eu faria, só que na década de 90. Ele me pediu que passasse a minha cena para que ele pudesse ver e me deu direções importantíssimas. Recentemente no podcast de Pra Dar Um Fim no Juízo de Deus, fizemos juntos a personagem Marat, compartilhando as falas.
Achei muito interessante essa possibilidade, por mais que me amedrontasse a ideia de conversar com Pascoal sobre teatro, ao vivo, diante de muitas pessoas. Fiz o convite e ele topou de cara. Nasciam ali as Lives Antropófagas.
Ver essa foto no Instagram
Conversamos rapidamente e depois tive dias intensos de estudo sobre ele e todos os personagens que ele havia feito dentro e fora da companhia. Desde Mario de Andrade, a quem ele ainda hoje dá vida em peças e eventos por todo o país, passando por Dr. Abobrinha, Kadmos e um dos coveiros de Hamlet. O processo de me preparar para a nossa conversa que aconteceria dali a poucos dias possibilitou que eu me aprofundasse na trajetória dele e do próprio Oficina, de uma maneira que eu não havia feito antes.
A live em si também foi outro momento interessante. Antes de começarmos, reli todo o roteiro que havia preparado para conversa, passei um pouco de pó para tirar o brilho do rosto, me alonguei um pouco e aqueci a voz. Além de necessário, todo esse processo me ajudou a dissipar um pouco o nervosismo daquele momento que, para mim, era igual ao que antecede o de entrar em cena.
Ao contrário, Pascoal como sempre foi muito generoso e a conversa fluiu bem. Foi um momento em que me aprofundei na história do Oficina pelo olhar dele. E não só eu. Combinamos entre nós da companhia de assistirmos as lives uns dos outros, por isso muitos dos integrantes estavam lá junto com o nosso público, fazendo perguntas, comentários e se divertindo com aquele papo.
Ao todo, foram 29 Lives Antropófagas com pessoas de todas as áreas do Oficina, incluindo pessoas que hoje não estão no trabalho diário, mas foram muito importantes para história daquele teatro.
Esse movimento que começamos com as transmissões ao vivo foi tão importante para desvelar a Quarta Parede que existia entre nós, integrantes do Oficina, e a própria história do grupo, do prédio e dos outros integrantes. O processo foi tão importante que dizemos entre nós que as lives compõem a 3ª dentição da Universidade Antropófaga, que é uma ação transversal da companhia voltada para transmissão da história e conhecimento do Oficina para outras pessoas. Foi por meio de seleções para a Universidade Antropófaga que boa parte do elenco chegou ao Teatro e segue se formando.
As Lives Antropófagas também influenciaram os atuadores da Arquitetura Cênica (parte da companhia responsável por criar cenários, adereços, da topografia do teatro e da relação com a cidade), a convidar pessoas e, juntos, realizarem as Lives pelo Parque do Bixiga[8], com discussões imprescindíveis não só sobre o terreno do entorno do Teat(r)o Oficina, mas sobre questões urbanas e cosmopolíticas que se relacionam com o agora de muitas cidades do mundo.
O olhar para dentro e o tempo.
Durante a pandemia, fomos todos forçados a ficar em casa. Olhar para a própria casa. Cuidar dos nossos. Do convívio. Das nossas plantas. Do nosso corpo enquanto nossa primeira casa. Pelo menos, esse tempo de isolamento foi uma oportunidade para isso. Acredito que as lives são um grande reflexo disso.
Me lembro que, quando decidimos fazer as Lives Antropófagas, assistíamos muitas outras, entre elas, as da Tereza Cristina. Lembro-me de assistir a que foi realizada em homenagem ao aniversário de Gilberto Gil, que teve um público de 14 mil espectadores! Mesmo assim, em uma das ‘cenas’, para chamar assim, Preta Gil cantou de hobby, deitada na própria cama.
As casas das pessoas viraram seus palcos. Tornando pública essa esfera íntima. Revelando detalhes nos móveis, na decoração, num certo não dito que se dava a conhecer nessas transmissões que aconteciam nos seus domicílios.
Percebo que as Lives Antropófagas mostraram o Oficina para fora e para dentro . Mostraram as estruturas, para o público em geral, mas também fez com que nós mesmos, artistas da companhia, nos conhecêssemos melhor e nos déssemos a conhecer. Gerou um material extremamente rico sobre a companhia hoje.
O eterno retorno.
Escrevo essas mal traçadas linhas do meu quarto da casa da minha mãe em Olinda. Voltei para cá, dessa vez, não pela saudade que me trouxe pelo braço, mas por uma estratégia de preservação e autocuidado. A companhia está sem atividades presenciais e, apesar de estar trabalhando à distância, via internet, com outras coisas, optei por deixar minha morada em São Paulo e passar esses dias de quarentena aqui. Decidi só voltar a São Paulo quando houver prognósticos mais concretos, quando a vacina ou algo do tipo seja uma realidade.
A companhia permanece em atividade. Mantém as funções vitais para seguir existindo. Temos trabalhado em várias frentes para mantê-la viva.
Foi necessária uma pandemia para que eu percebesse que o vírus da criação mora em mim há muito tempo e que me move. No momento, ele me deixa febril pelo encontro. Mas sigo no tratamento paliativo de contato com esse trabalho, como nessa dose homeopática de memória que tomo enquanto escrevo este texto e me pergunto: como estará o teatro quando voltarmos às atividades presenciais? Vamos voltar? Se sim, quando?
Notas de Rodapé
[1] Junção das grafias Teatro e Teato numa só. O teato começou a ser desenvolvido pelo Oficina na década de 70 e é um ato de comunicação direta qualquer que se baseia em encarar tudo no dia a dia como um teatro onde cada um de nós tem uma personagem e, assim, desmascarar o teatro das relações sociais.
[2] Facebook da Universidade Antropófaga (Acesse AQUI)
[3] Zé Celso, diretor da companhia, encontrou nas iniciais uma ligação entre as duas peças. Ele diz que o coro de Roda Viva, tão importante para a história do teatro, saiu das personagens do Rei da Vela. Um “coro de protagonistas”.
[4] Menção ao Manifesto Antropófago, quando Oswald de Andrade traz nessa figura do bárbaro tecnizado uma figura que é do passado, que teima em permanecer, mas olha e quer comer o futuro.
[6] Canal do Oficina no youtube (Acesse AQUI)
[7] As Lives Antropófagas estão disponíveis no IG do Teatro Oficina (Acesse AQUI)