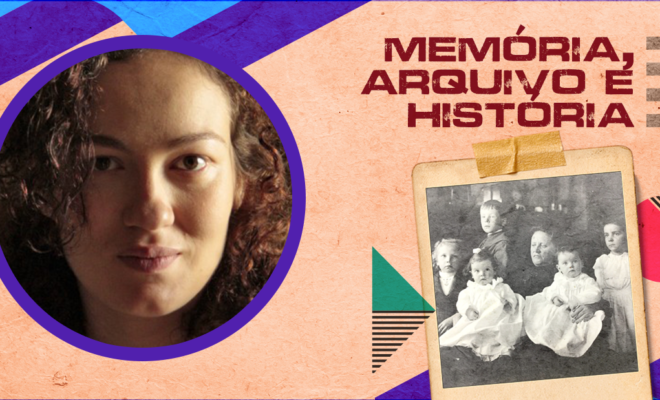#08 Memória, Arquivo e História | Fragmentos de um Pretérito (Im)Perfeito

Imagem – Arquivo | Arte – Rodrigo Sarmento
‘Num auge das demolições do patrimônio material e imaterial, o trabalho em teatro documentário funciona como uma resistência à fabricação de ideias de ‘progresso’ que celebram essa ordem do capital’. Com sua experiência na Cia de Teatro Documentário, o diretor e pesquisador Marcelo Soler colabora no dossiê Memória, Arquivo e História em uma entrevista ao nosso editor-chefe, Márcio Andrade, comentando sobre como percebe as potências dos arquivos do ‘real’ em nos fazer rever nossos modos de elaborar passado e presente.
Marcelo Soler é diretor teatral, dramaturgo e teatro-educador. Graduado, Mestre e Doutor em Artes Cênicas (ECA/USP) e Graduado em Comunicação Social (Faculdade Cásper Líber), Professor da ECA (USP), Diretor e Dramaturgo da Cia Teatro Documentário e autor dos livros Quanto vale um cineasta brasileiro?, livro/documentário sobre a vida e obra do cineasta Sérgio Bianchi, e Teatro Documentário: a pedagogia da não ficção.
Marcelo, fala sobre como se deram teus encontros com o teatro e essa forma de relacioná-lo com o documentário.
Sempre me encantei bastante por cinema (tanto ficcional como documentário) desde muito jovem e, quando comecei a trabalhar com teatro, percebi como a contradição entre a efemeridade da presença teatral diante de uma plateia e a concretude dos momentos mortos nas imagens do cinema me interessava.
Envolvido com essas questões, dirigi uma peça de uma amiga minha da ECA (USP) em que queríamos usar relatos de pessoas que se consideravam perdedoras na vida: não tiveram sorte na vida no amor, nas finanças e nem nas amizades. Em um dos exercícios de criação, propus que improvisássemos a documentação daqueles relatos e fiquei pensando em como seria o processo de fazer documentário em teatro.
Isso aconteceu por volta dos anos 2000, quando se falava pouco em teatro documentário ou documentário cênico. Na faculdade, minha orientadora, Maria Lúcia Pupo, citou o encenador Piscator e comecei a ler sobre o tema. Minha amiga e eu fizemos a encenação a partir dessas influências e questões: como seria documentário em teatro? O que é documentar? A documentação necessita de um arquivo fixo e imutável?
Então, comecei a estudar teatro documentário e descobri alguns documentários cênicos que estavam sendo produzidos no Brasil, mas que não se intitulavam dessa forma. A partir desses estudos iniciais, comecei a propor encenações dentro do meu campo de trabalho (a escola formal) para que tanto eu como meus alunos aprendessem mais sobre aquela forma de fazer teatro.
No mestrado, fui orientado novamente por Maria Lúcia Pupo e investiguei como o teatro documentário carrega potencialidades de ser trabalhado pedagogicamente em sala de aula a partir de questões como memória, documento e arquivo, resultando num livro chamado Teatro Documentário – A pedagogia da não ficção.
Em 2006, enquanto estava no doutorado, alguns alunos meus me procuraram para participar de um grupo de estudo e, a partir das atividades práticas, terminamos criando o que viria a ser a Cia Teatro Documentário, que está com um pouco mais que dez anos.
Na Cia. Teatro Documentário, os dispositivos para os documentários cênicos atravessam abordagens bem distintas, tais como Consumindo 68, Pretérito Imperfeito e Este Vasto Reino de Vosso Belo Reino. Como surgem os interesses de investigação de vocês e como procuram dispositivos para ‘dar conta’ dessas intenções?
Nossa perspectiva trata-se de pensar como fazer documentários em teatro como possibilidades de encontros mais duradouros dentro de uma cidade como São Paulo, em que a lógica da velocidade e do capital termina reforçando a figura do espectador mais como consumidor. Então, a gente sempre se questiona sobre quais experiências que envolvem memória queremos propor para as pessoas e cada projeto nasce desses questionamentos.
No Consumindo 68, por exemplo, a gente começou recorrendo a arquivos (jornalísticos e históricos) e a entrevistas com um pessoal da geração de 1968. Nas conversas com essas pessoas, elas comentavam sobre outras questões que não estavam diretamente ligadas ao que nos interessava: a especulação imobiliária, as pessoas se isolando do convívio com seus vizinhos etc..
Esses relatos nos fizeram questionar nossa própria abordagem: ao invés de usar a entrevista como um documento sobre um tema específico, propusemos ações artístic0-pedagógicas que funcionariam como dispositivos de coleta desse material documental. A ideia terminou se tornando um documentário cênico que questionava como a cidade a cidade de São Paulo não parecia ser mais um lugar de encontro.
Nesse processo, a gente entrou em contato com grupos de teatro que tinham uma relação com a comunidade e criávamos um desafio: em uma tarde, cada grupo precisaria criar formas de sintetizar a experiência na sua região em seus aspectos principais (trânsito, diversidade etc.). A partir desse exercício, realizamos vivências com pessoas da própria comunidade e fazíamos jogos com jovens, adultos e idosos que estimulavam a oralidade e suas memórias sobre o bairro.
Depois desses jogos, íamos para as casas das pessoas conversar sobre suas memórias: vimos fotos antigas, visitamos outros lugares e criamos interferências cênicas abertas aos vizinhos e a quaisquer convidados. Para aquela plateia, essas encenações funcionavam como formas de reativar memórias sobre o local e refletir sobre a natureza da linguagem teatral, visto que, para muitos deles, a visão hegemônica de teatro tinha mais a ver com grandes figurinos, cenários, luzes etc.
Fizemos esses processos nos quatros cantos de São Paulo, discutindo o que seriam as relações de vizinhança e as possibilidades de encontro e desencontro na cidade. A partir desses materiais, criamos o Pretérito Imperfeito, outro documentário cênico. Em outros processos, realizamos ações artístico-pedagógicas para colher material e abrimos para que outras pessoas (os documentados e seus vizinhos) participassem da encenação contando suas histórias também.
Nesses processos, a gente percebia como as pessoas sentiam prazer em entender a sua própria história e da sua rua, o que alimentava a sensação de pertencimento e repercutiu, inclusive, nos próprios atores: uma das atrizes se identificou tanto com as histórias da Bela Vista que resolveu mudar de bairro. Então, sair dessa visão unilateral de ‘dar voz’ para as pessoas falarem sobre si e investir nessa troca entre atores e público modifica nosso modo de descobrir histórias, de formular respostas cênicas para esses encontros e nossa própria vida.
Além dos espetáculos, vocês usam cemitérios e outros pontos da cidade para intervenções como Terra de Deitados e A MORTE na VIDA da grande Cidade. Para vocês, como se diferencia o processo de trabalhar com arquivos íntimos nas casas das pessoas e em espaços públicos carregados de tantas memórias coletivas?
No Terra de Deitados, fizemos investigações cênicas nos cemitérios apresentando como eixo a história de uma senhora, D. Francisca, que, na época, tinha noventa e poucos anos e envolve um jazigo no cemitério da Vila Mariana. Essa senhora vivia junto com seus cinco filhos e o seu marido no interior de São Paulo numa vila de espanhóis na época de Getúlio Vargas.
O marido dela trabalhava numa fábrica de rádio e, quando ela tinha quarenta anos, ele faleceu. Sem saber como enterrar o marido e ainda com cinco filhos, ela ouviu do gerente da fábrica que eles iriam arcar com todos os custos e o enterrariam em um jazigo no cemitério da Vila Mariana. Então, enquanto ela contava essa história, a gente começou a perceber que a ‘bondade’ desse patrão queria esconder um acidente de trabalho e usar o túmulo para calar essa família.
Esse foi o relato que norteou nosso projeto: desenvolvemos oficinas em quatro cemitérios para entender seu funcionamento e o mercado funerário. Tivemos a participação de todos os funcionários da Vila Mariana e eles contaram junto conosco essa história: a intervenção começava na recepção do cemitério e terminava no documento vivo que era o túmulo do marido de D. Francisca.
Então, são projetos que, de alguma forma, desenvolvem também o tema da morte e da vida na grande cidade como simbologia: a morte da rua, dos pequenos estabelecimentos, da vizinhança etc.. Nosso atual projeto trabalha com a ideia de uma São Paulo que, com a velocidade das relações, está atropelando a memória, questionando o slogan do nosso prefeito: ‘Acelera, São Paulo’.
Então, partimos do resgate de pequenas memórias perdidas para falar sobre da própria dinâmica da cidade nessa ode ao imediatismo, ao não-pensamento, à não-reflexão. Quando vamos pesquisar relatos sobre as memórias das pessoas, o que percebemos é que a maioria delas não tem tempo para esses exercícios – o que também se torna material para nosso trabalho. Nosso interesse tem sido descobrir modos de trabalhar cenicamente com a lembrança e o esquecimento: como a linguagem teatral pode trazer em si o mecanismo da memória?
Então, nossos princípios são bastante semelhantes entre si e o que vem variando são os procedimentos, os métodos para alcançar esses objetivos por meio de ações artístico-pedagógicas que tragam os relatos, priorizando histórias que não estão sendo registradas oficialmente.
O conceito de documentário se modifica bastante ao longo da sua história a partir de contextos socioculturais e tecnológicos que diversificam as abordagens sobre o que se entende como ‘real’. Pensando nas pesquisas resultaram no teu livro Teatro Documentário: a pedagogia da não ficção, como os trabalhos desenvolvidos por outros grupos vem colaborando para a ampliação do conceito de ‘teatro documentário’?
Na minha pesquisa de doutorado, intitulada O campo do teatro documentário, abordo o conceito de documentário como uma construção histórica e como suas limitações variam de época para época. Como você bem disse, não existe um teatro documentário, mas teatros documentários e, na minha perspectiva do materialismo histórico, procuro compreender como o conceito dessa forma de fazer teatro surge. Uma das minhas principais descobertas vem sendo como práticas diferentes habitam esse mesmo campo, norteados por alguns princípios – e não necessariamente características –, que, no caso dos meus estudos, trabalho com três.
O primeiro seria de intencionalidade documentária, em que procuro compreender como os variados contextos históricos influenciam nossas formas de entender o conceito de documentar. O segundo seria o trabalho com e sobre documentos: como o interesse pela busca de documentos e registros varia de acordo com as épocas e como isso pode virar material cênico. E o terceiro, a ideia de um pacto documental, que provoca diferenças no modo como a fruição do espectador acontecerá em relação a um espetáculo com dramaturgia convencional. A partir do momento em que o espectador enxerga um espetáculo como documentário, a relação que ele vai construir com a obra se dará de forma distinta, mesmo que não possamos falar em uma oposição total entre ficcional e documentário.
Uma das primeiras pessoas a fazer essa indexação do próprio trabalho à uma espécie de linguagem documental é Piscator e, a partir dele, uma série de outros artistas começa a fazer o mesmo. O teatro documentário surge entre as duas guerras mundiais, um momento em que a realidade se apresentava de uma maneira muito ficcionalizada: olhávamos para o mundo e não acreditávamos que aquilo acontecia. Atualmente, parece que estamos em outro momento histórico em que olhamos para a realidade de maneira ficcionalizada e, na contramão disso, o teatro começa a ir para o campo documental.
Claro que, nesse campo, emergem diversas contradições: ao mesmo tempo em que temos a proposta documentária como crítica da ficcionalização dos fatos e a autobiografia com um teatro mais performativo, alimentando um interesse nas memórias de pessoas comuns. Uma das contradições nesses campos está justamente na existência de produções que, assumidamente, questionam essa realidade e outras que, sem querer, acabam se ligando a uma visão mais massificada em que certa ode ao individualismo as aproxima mais do universo espetacular e ficcionalizado de um Big Brother.
Num auge das demolições dos patrimônios material e imaterial, o trabalho em teatro documentário funciona como uma resistência à fabricação dessas ideias de ‘novidade’ e ‘progresso’. De alguma maneira, ratificamos a necessidade da elaboração dos passados, visto que não se trata de algo dado, mas que demanda a construção de sentidos possíveis.
Friccionando um pouco mais essas questões, como você reflete sobre essa emergência das ‘memórias do presente’ por meio das imagens e redes sociais? Existe algo no nosso modo de produzir e fruir essas formas de documentar e publicizar o presente que te interesse investigar?
O processo de arquivamento que ocorre nas redes sociais me parece, na verdade, uma celebração do eu, como afirma Paula Sibilia no livro O Show do Eu. Nas redes sociais, parece que não se quer reconstruir o passado ou a experiência vivida, mas selecionar alguns registros para fabricar uma fábula ficcionalizada a partir de eventos reais. Nas redes sociais, a construção dessa fábula se assemelha muito com a construção ficcional nos meios de comunicação de massa, nos filmes hollywoodianos, nas novelas… Tanto que sempre se fala sobre a hipervalorização das histórias legais, do não sofrimento e, às vezes, acredito que essa hipermidiatização atravessa até a publicização do próprio sofrimento.
Na intenção de fabricar uma fábula sobre si, a pessoa passa a ser um personagem a partir de imagens fruídas como em uma novela, mesmo que exista a partir de um pacto documental. Não acredito que qualquer meio deva ser demonizado, mas os modos como lidamos com esses meios apontam contradições que me interessam: o gesto de criar ‘monumentos’ como forma de fugir do esquecimento e resistir à morte, uma luta ancestral que, hoje, não se responde mais a partir de um ambiente mítico, mas no culto à celebridade.
A partir disso, podemos pensar: será que, nas redes sociais, nosso interesse é mesmo documentar ou elaborar o passado? Se trata mesmo de trazer à cena a experiência e construir outras relações com a vida? Refletir sobre isso é refletir para além do teatro: trata-se de pensar sobre como estamos lidando com a vida. Então, trazer esses arquivos à cena como modo de elaborar nossa relação com o presente pode tanto criticar como celebrar alguns valores dessas ordens hegemônicas vigentes do capital.