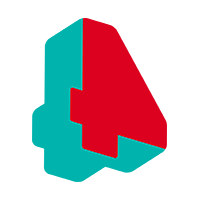#11 Corpos [In]Visíveis | Danço um país à beira do fascismo: Meu corpo existe e quer inaugurar seu lugar

Imagem – Solar Ateliê Criativo | Arte – Rodrigo Sarmento
Por Elis Costa
Mestra em Direitos Humanos (UFPE), Historiadora, Bailarina e Atriz
Na ocasião do convite para escrever este texto, sobre uma possível relação entre as artes cênicas com os direitos humanos, eu completava exatamente um ano desde a defesa da minha dissertação de mestrado. Andava bastante reflexiva sobre as minhas escolhas (e também sobre a falta delas) de voltar à academia, a um programa de pós-graduação que não é de artes, para desenvolver uma pesquisa sobre dança. Vocês podem imaginar que são muitos e diversos os desejos que nos levam a um mestrado, mas esse espectro se alarga quando o curso em questão é em direitos humanos e quando se vive tempos de grandes acordos nacionais, “com supremo com tudo”.
Digo isso por não perder de vista que vivemos no país que mais mata militantes de direitos humanos no mundo, país que foi cenário da execução da vereadora Marielle Franco, país cujo vice da chapa presidenciável líder nas pesquisas declara-se de saco cheio com a militância que pede justiça para esse crime brutal (há seis meses sem respostas). Em outras palavras, os ventos não sopram a favor para quem é artista no Brasil, tão pouco para quem é “do pessoal dos direitos humanos”.
Quando nos identificamos como mulher, então, a situação fica ainda mais delicada, já que o Estado se comporta como se tivesse poder sobre nossos corpos. Mulher no Brasil é abertamente chamada ao lar, ao recato, é sinônimo de uma fraquejada. Ainda assim, meus impulsos me apontavam esses caminhos, e percebi que esta foi a estratégia que criei para garantir, com urgência, a continuação da minha vida.
Eu busquei a universidade para ser vista e ouvida, porque, em algum momento da minha história, aprendi que esse era o caminho correto para a construção de conhecimento no que quer que seja, das menores às maiores divergências do senso comum. Fui pleitear um lugar ao sol pelas vias aceitas, convencionais, que exigiriam um pouco menos de mim, porque, apesar de nunca fugir do confronto, eu sempre preferi evitá-lo. Também porque acreditei, por um bom tempo, que essa era a única via possível de ser reconhecida como “alguém na vida”, ideia amplamente disseminada na minha geração.
Eu quis ser em paz, e mostrar que tudo que me constitui (meu gênero, minha sexualidade, minha origem, minha classe social, minha sensibilidade exacerbada, o que eu sabia porque dançava) é bom, autorizado, merecedor de existência. Mas ia além da supervalorização da minha prática de vida: era uma tentativa bastante honesta de derrubar a ideia de que alguma coisa que existe é preterida em relação à outra.
Para mim, sempre foi claro, desde que comecei a dançar: se você existe, e eu também, não há diferenças entre a gente. Dançando eu entendi que existir é a medida da vida, do direito à vida, porque, na hora de mover, a gente só tem à nossa disposição aquilo de que somos feitos, não aquilo que pudemos comprar, não aquilo que o que temos nos faz parecer ser.
As estratégias do ódio, do fascismo, focam fortemente no apagamento das pessoas, no fazer com que as formas como elas se apresentam ao mundo não sejam aprendidas e ensinadas, registradas na história, documentadas, vistas. Aquilo que a gente não vê, ou não vê tal como é (o que é o mesmo que não ver), não existe para nós e pode ser eliminado sem sequer ser lamentado – como se o mundo estivesse para um indivíduo, seu grupo e suas ideias, e não para o que o mundo mesmo é: essa diversidade toda de coisas e gentes.
Como se o extermínio de uma determinada parcela da população, a usurpação de sua dignidade, pudesse ser aceita em nome do que quer que seja, de um bem maior (o que há maior que a vida?). Ou seja, somente uma sociedade que acolhe como possível e permitido ideias anti-vida, de ódio em alguma medida, é que produz corpos (in)visíveis, cuja aniquilação é autorizada e pode ser percebida nas entrelinhas dos fatos históricos.
Vídeo da perfomance ‘Mulheres da Mamede’ | Filmagem e Edição – Filipe Marcena
Com o avanço do golpe, tornei-me vagabunda para uma parcela significativa da população que possivelmente não frequenta os teatros e espaços de arte desse país. Em meio à escassez de trabalhos, sucateamento do Ministério da Cultura e o empilhamento dos boletos, só crescia a minha sensação de contas a pagar com o mundo. E essa sensação, eu percebi, devia-se ao fato de eu ser mulher, gostar de mulher, também gostar de homem, de estabelecer uma relação mais libertária com minha carne, de ser nordestina, pobre, não morar bairro nobre, pensar o trabalho sob outra perspectiva, de gostar de gente e acreditar no poder das belezas profundas reveladas pelo corpo, de acreditar no corpo, na arte, no diálogo, na resolução dos conflitos de forma não-violenta, de apostar em uma cultura de paz. Enfim, pelo fato de estar viva, como se a vida fosse algo que alguém como eu não merecesse usufruir. Eu que demorei a me sentir suficiente, corri para os direitos humanos como quem corre para um lugar onde todo mundo cabe, é convidado e bem-vindo. Um lugar parecido com as artes. Fui porque imaginei que, enfim, estaria onde o que eu sabia dançando encontraria acolhimento e não a velha conhecida estranheza.
Em suma, busquei a academia e os direitos humanos como quem busca uma fresta qualquer, por menor que seja, para participar do mundo, existir. E dadas as minhas especificidades humanas, apostei que os direitos humanos seriam um lugar mais acolhedor. Se escolhi compartilhar essa trajetória até aqui é porque não saberia falar de uma experiência de invisibilidade e suas estratégias de superação que não a partir do meu corpo, porque só tenho propriedade sobre a minha própria busca por uma (re)socialização através do estabelecimento de pontes entre a arte e os direitos humanos. E em verdade, em verdade vos digo que, por lá, testemunhei reações diversas sobre a minha presença, ou a presença do meu saber, que não flertavam só com o acolhimento.
Percebi que, se meu objeto fosse a dança como uma ferramenta de (re)socialização, a função social da arte ou obras cujas temáticas abordassem temas reconhecidos como próprios do escopo dos direitos humanos, ou ainda seu modo de produção, rapidamente minha figura ali estaria justificada. Confesso, talvez tenha cogitado essas possibilidades, dado que eu mesma cheguei ali para exercitar a minha relação social, mas lá o meu saber dança solicitou superfície e ignorá-lo era continuar me silenciando frente ao mundo.
Pareceram-me limitadas essas conexões apontadas a priori, e fui percebendo que há espaços que precisam ser inaugurados, e não adaptados a formatos já conhecidos – e quando digo inaugurar aqui não me refiro à invenção de algo do nada, mas ao seu reconhecimento tal como é, sem acomodações ao senso comum, ao hegemônico, ao tido como aceito (essa mesma lógica, aliás, se aplica bem às pessoas).
O elo mais oportuno que vislumbro, então, hoje, entre a dança e os direitos humanos, assenta-se em uma ética de afirmação da vida, e essa aproximação extrapola a leitura de mundo a partir do que é dado. Diante da dança, somos convidados à experiência de uma “cegueira” que nem se relaciona com a privação da visão, nem poderia ser compreendida como um ponto de vista, mas antes com a revelação do verso das coisas postas, que produz um rasgo no mundo e nos permite enxergar o outro lado, o lugar para onde o invisível escapa, a essência, sabendo que chamamos de essência o que uma coisa é como é (HEIDEGGER, 2005, p. 11).
O ponto de vista é a perspectiva, isto é, a visão do olhar que, ao pôr em perspectiva, seleciona. Falar de perspectivismo é dizer que sempre vemos as coisas, que sempre interpretamos as coisas de certo ponto de vista, segundo um interesse, recortando um esquema de visão organizado, hierarquizado, um esquema sempre seletivo que, consequentemente, deve tanto ao enceguecimento quanto à visão. A perspectiva deve ficar cega a tudo que está excluído da perspectiva; para ver em perspectiva, é preciso negligenciar, é preciso ficar cego a todo o resto; o que acontece o tempo todo. Um ser finito só pode ver em perspectiva e, portanto, de maneira seletiva, excludente, enquadrada, no interior de uma moldura, de uma borda que exclui. Consequentemente, deve-se cercar o visível posto em perspectiva com toda uma zona de enceguecimento. A perspectiva é cega tanto quanto vidente. Desse “ponto de vista” também, uma certa cegueira é a condição da organização do campo do visível. (DERRIDA, 2012, p. 73).
O que a arte possibilita é outra perspectiva, que pode vir a focar no que até então encontrava-se nas sombras, nas margens, excluída da história. Dançar é zelar pela vida, e ao dançarmos buscamos não admitir desatenções ao processo vital do ser. Ou seja, a dança desterritorializa e acolhe o desassossego provocado pela perda dos territórios, não anestesiando a dor ou a angústia que esta crise de referências, esta vulnerabilidade que é um estado de alargamento da alma pode vir a ocasionar, assim como a alegria.

Performance ‘Mulheres da Mamede’, com Elis Costa, Iara Campos e Íris Campos | Foto – Cleyton Cabral | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem colorida de performance na rua, em que se vêem três mulheres, cada vestida de uma forma diferente. No centro, a artista Elis Costa está em pé em cima de uma cadeira e vestindo uma blusa preta com as palavras ‘Lute como uma garota’, em letras brancas.. Ao fundo, várias pessoas estão assistindo e passando pela rua.
É através deste processo que a dança nos põe em relação com nosso tecido sensível, trançado a tantos outros tecidos sensíveis de outros tantos semelhantes e não semelhantes a nós, e se faz caminho para o contato com nosso ser como se é, nossa força de criação de tudo, independente da temática, do modo de produção ou abordagem da obra – aspectos do campo visível.
Para mergulhar nessa compreensão, eu convido vocês a pensarem a dança em um sentido atípico a nossa sociedade, esta que não exercita a fruição estética cotidianamente e que facilmente reduz essa expressão ao que há de menor do humano: convido-os a pensarem a dança como uma prática de nossa presença no mundo, uma forma de conhecimento.
O início da revolução industrial inaugurou um período de mal estar político próprio do capitalismo financeiro que irrompeu em nossa realidade com mais força neste final do século XX, agindo sobre nossos processos de subjetivação e trazendo ao nosso convívio uma singular crise de sentido de nossas referências de mundo. Essa crise, claro, atravessa nossos corpos atingindo em cheio o tecido de nossa sensibilidade, especialmente no que tange ao lugar do outro e o propósito da força de criação: “É o desassossego da crise que desencadeia o trabalho do pensamento – processo de criação que pode ser expresso sob forma verbal, seja ela teórica ou literária, mas também sob forma plástica, musical, cinematográfica, etc. ou simplesmente existencial” (ROLNIK, 2011, p. 29). Seja como for, pensamos porque a vida que se apresenta se quer outra, criamos por ansiarmos devires que abriguem a mutação sensível latente no mapa de sentido vigente.
Um dos problemas visados pelas práticas artísticas na política de subjetivação em curso tem sido a anestesia da vulnerabilidade ao outro – anestesia tanto mais nefasta quando este outro é representado como hierarquicamente inferior no mapa estabelecido, por sua condição econômica, social, racial ou outra qualquer. É que a vulnerabilidade é condição para que o outro deixe de ser simples objeto de projeção de imagens pré-estabelecidas e possa se tornar uma presença viva, com a qual construímos nossos territórios de existência e os contornos cambiantes de nossa subjetividade. Ora, ser vulnerável depende da ativação de uma capacidade específica do sensível, a qual esteve recalcada por muitos séculos, mantendo-se ativa apenas em certas tradições filosóficas e poéticas. (ROLNIK, 2011, p. 30).
Em O olho e o espírito, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty aponta a partir da fenomenologia, acessos para a ativação de tal capacidade específica do sensível, sinalizando o espaço dessa vulnerabilidade que se busca. De encontro à ciência clássica, Merleau-Ponty provoca-nos a olhar para o ser enquanto ser e não enquanto objeto, independente de suas determinações particulares, sugerindo a existência de um “há” prévio do humano: uma dimensão intocável, intraduzível, que reside sob nossos atos, sob tudo o que a ciência clássica diz ser capaz de nos definir.
Seria então este “algo” que nos faz a todos os seres para além de nossa raça ou espécie, um conjunto de outros corpos, corpos que nos percorrem, que percorremos e com os quais percorremos um único ser, o corpo mesmo que somos, agora. É então neste corpo, neste espaço da vulnerabilidade que se busca, que reside então o sentido bruto: este local caloroso e sagrado onde a arte frequenta.
A dança, como prática artística que se realiza no corpo e que lida com a efemeridade como condição, apresenta suas peculiaridades neste processo de recuperar o contato com nossas texturas sensíveis e como elas se conectam, se contagiam, remodelando a paisagem do mundo. Ainda segundo Merleau-Ponty, o artista em um movimento natural é capaz de interceptar as sensações no mundo com o seu corpo e transportar para suas obras o sentido, o tocado, o percebido. Nenhuma ciência ou palavra de ordem, segundo o autor, podem mediar esta ação de refletir o mundo que se dá estritamente entre o artista e sua obra no ato de criar.
Vídeo da perfomance ‘Mulheres da Mamede’ | Filmagem e Edição – Filipe Marcena
É o corpo do artista este cruzamento de visão e movimento: o próprio mundo que (neste caso) é dança; e a dança, o próprio dançarino. A partir do que capturou seu olho, afetado pelo encontro com o mundo, este artista devolve ao mundo um dado visível dele mesmo com os movimentos de seu corpo, ou seja, a obra “dá existência visível ao que a visão profana crê invisível” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 18). Trata-se do acirramento da condição do corpo, que conta-se entre as coisas do mundo e ao mesmo tempo “não está na ignorância de si, não é cego para si, ele irradia de um si” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 15).
Assim, em estado de arte, o corpo do artista da dança pode ser compreendido como a eminência de devires possíveis. Transitável às urgências do outro que nos acontece em nossa dimensão vibrátil, o corpo do bailarino é também percebido pelos demais nas sensações provocadas pela sua presença, pelos movimentos do mundo que transmuta em dança.
E é assim que a dança exerce sua potência política na nossa sociedade: provoca-nos um êxtase capaz de nos fazer experienciar algo outro que não a rotina que nos aliena, a abertura da não obviedade, uma pausa no tempo-espaço da vida, uma fenda no cotidiano que nos usurpa a capacidade de pensar e agir por nós mesmos. E assim, mergulhado em um esquecimento da vida banalizada, nos devolve o agora, a possibilidade de vivificar o que fora, pelo alheamento, tornado extraordinário.
Tal suspensão do cotidiano, típica da arte, é por si uma experiência potente na constituição das subjetividades, logo, uma experiência política, uma vez que possibilita a criação de outras aberturas, outras possibilidades de existência, uma fuga à opacidade do mundo. Um mundo escrito sob a égide da ciência e de seu pensamento operatório que Merleau-Ponty sugere estar em harmonia com o estado de sono em que vive o homem. Este artificialismo absoluto, continua o autor, precisa ser questionado – e a dança é um caminho efetivo para isto, independente da temática trabalhada, do seu modo de produção ou abordagem da obra (aspectos do mundo visível).
Ao despertar a sensibilidade, a dança oferece ao ser humano a crise, a instabilidade, o desassossego de sua condição de vulnerabilidade que é característica dos movimentos do desejo, da vida em movimento. Proporcionando o acesso à força de criação, logo a autonomia, a capacidade de pensar e agir por si, a dança expande o ser em sua percepção, entregando-nos o entendimento de que somos sujeitos de nós mesmos. Ao sinalizar essa possibilidade de sermos inventores de nós, a dança revela sua política e o lugar onde encontra os direitos humanos.
Melhor dizendo: dançar provoca o encontro da subjetividade com o solo vibrátil do viver humano, convocando esta subjetividade a ser o que se quiser ser, mas sendo ao seu modo. Nisto consiste a proposição da dança a que nos referimos aqui, a que sugere uma existência sendo esta existência. Este é o deslocamento do político que, na dança, não responde a uma partidarização, aos desejos de outras subjetividades, mas representa uma resistência a essa partidarização ao focar na resposta aos desejos do ser desejante. Dança é política e encontra os direitos humanos quando nos chama a elencar mundos plurais a partir do que são as subjetividades criadoras desses mundos, e não a partir de expectativas externas a estas subjetividades.
Termino dizendo que meu propósito inicial ao buscar a universidade, o de tirar meu corpo de mulher, bissexual, nordestina, pobre e artista da invisibilidade, vem sendo alcançado gradativamente. Não porque tive a oportunidade de estender meus estudos a um mestrado. Não por meio de uma lógica de (re)socialização, de um acondicionamento às estruturas sociais edificadas a partir da lógica patriarcal, eurocêntrica, branca, heterossexual, heteronormativa, sudestina, cientificista, cristã e elitista. Mas sim pelos atalhos que pude encontrar e seguir, mesmo em um ambiente normativo como a universidade, e que me levaram à superação dessas prerrogativas, ao reconhecimento de outras éticas pulsantes no meu corpo, éticas essas que abrem mão deste raciocínio opressor em detrimento de outra geografia da razão – uma estética.
O privilégio de encontrar espaço para minha autodeterminação, ainda que tardia, possibilitou-me olhar para além da adaptação ao corpo social vigente como o mecanismo possível para a inclusão no mundo, como a única porta para a existência. Possibilitou-me vislumbrar outros contornos sociais, novos marcos civilizatórios possíveis para a nossa sociedade: pautados na celebração das diferenças e no exercício de uma cultura de paz entre todos os modos de vida.
Referências*
DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elizabeth. De que amanhã…. diálogos. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de Arte. Tradução de Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 2005.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
ROLNIK, Suely. Geopolítica da cafetinagem. Espaço Impresso, Rio de Janeiro, v. 1, p. 29-38, mai. 2011
* Reparem que, dos quatro autores que cito nesse texto, três são homens europeus. Os homens europeus são os mais lidos nas universidades, mesmo aqui no nordeste do Brasil. No entanto, todo meu pensamento nas linhas acima está fortemente contaminado pelas leituras feministas, especialmente de autoras mulheres, latinas, negras. Não consegui citá-las nominalmente na minha pesquisa, os homens europeus atravessam todos os caminhos. Isso é uma autocrítica.