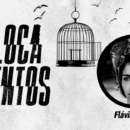#21 Ruínas ou Reinvenção? | Uma pausa para revelar memórias invisíveis: dança a partir das ruínas

|
Ouça essa notícia
|
Arte – Rodrigo Sarmento
Por Isabel Rocha
Arquiteta-urbanista (UFRN), Mestra em Urbanismo, habitat e cooperação internacional (Institut d’Urbanisme – Université de Grenoble 2), Doutora em Arquitetura e Urbanismo (UFBA)
Por Líria Morais
Artista, professora e pesquisadora em Dança. Mestre e especialista em Dança pelo PPGDança (UFBA). Doutora em Artes Cênicas pelo PPGAC (UFBA). Professora adjunta do curso de Licenciatura em Dança (UFPB)
Por Bárbara Santos
Docente do Departamento de Artes Cênicas (UFPB), doutora pela Unirio (2023), Mestre (2012), Especialista (1994) e Bacharel (1993) em Dança, todos pela UFBA, coordenadora do curso de Licenciatura em Dança (UFPB)
Durante anos, meu amor pelas ruínas me levou ao ódio pela arquitetura.
Eu queria ser um anarquiteto de desengenharias.
Ainda hoje, quando vejo um belo caixote de vidro e cimento na Avenida Paulista, ainda me consola pensar:
– Calma, calma, rapaz. Imagine que bela ruína isto vai dar um dia. (Leminski, 2012, p. 175-176)
Há sempre o risco do assombro ao experimentar ruínas
O Grupo de Pesquisa de Improvisação em Dança Radar 1[1] coleciona experimentações em lugares – da cidade de João Pessoa – e, alguns deles, que flertam com essa designação: ruína. Ao final de 2024, experimentamos compor, por meio da improvisação, dentro da estrutura do Núcleo de Arte Contemporânea [NAC] da Universidade Federal da Paraíba [UFPB]. Localizado no Centro de João Pessoa, o palacete eclético que abriga o NAC encontrava-se sem energia e com nítidos problemas de manutenção, mas, sob nova direção, convidou-nos [novamente][2] à apropriação por meio da dança em seus espaços. Em uma mostra[3] de encerramento do semestre acadêmico de 2024.1, apresentamos uma composição de dança que foi pensada para aquele casarão, já que durante os dias que nos encontramos ali, leituras, derivas e exploração em movimento foram desenvolvidos. A composição estava repleta de ações que deflagraram nossas vivências sobre o chão desgastado com piso antigo: as ocupações ao redor, em outros casarões, por moradores de rua, o descascamento das paredes, o eco que a configuração da arquitetura causava, dentre outras coisas. Abrimos para que o público pudesse testemunhar a improvisação pensada para aquele lugar.
Compreender que há uma especificidade no lugar em que se dança é também compreender que podem ser desenvolvidas especificidades compositivas, já que nem o dançarino nem sua dança partem do zero, ou seja, trata-se de uma pessoa com sua história e experiência de vida, e de um lugar que também possui uma história e aspecto circunstancial. (Morais, 2015, p. 30).
Antes da nossa chegada no NAC, nesse mesmo ano de 2024, em outro local do centro da cidade, estivemos em residência artística ocupando o espaço cultural Beira da Linha[4], explorando o espaço interno e o seu entorno durante aproximadamente um ano. Durante esses tempos, já pudemos tensionar o sentido da ruína, das paredes cruas se dando ao toque, testemunhando danças [e outras ocupações] que se estendiam para até além daquelas paredes, compondo com a linha e com o som do trem, movimentos de ruptura do/no cotidiano inacabado. A Casa da Beira da Linha habitou o pavimento do meio de uma edificação colonial – embaixo, funciona uma marcenaria, em cima, um bar cujo acesso se dá pela rua de cima, região identificada comumente como “Centro Histórico” de João Pessoa – com vistas para o pôr-do-sol no Rio Sanhauá, para além da linha do trem. Algumas leituras permearam a nossa estadia na Casa, introduzindo a vontade de pensar ruínas entre demais pesquisadores do Radar 1.
Isabel Rocha[5] se interessa pela noção de ruína desde 2019[6] – atuando em pesquisa na área de arquitetura, cidade e história – quando passou a estudá-la com base em Simmel (1998). A ruína é tida, então, como a condição de possibilidade para a imanência de outras formas de vida, da própria natureza; construção que admite seus esquecimentos, apresentando-os, juntamente com suas memórias, na composição de seus espaços. A ruína é processo.
A ruína da obra arquitetônica significa que naquelas partes destruídas e desaparecidas da obra de arte, outras forças e formas – aquelas da natureza – cresceram e constituíram uma nova totalidade, uma unidade característica, a partir do que de arte ainda vive nela e do que de natureza já vive nela. (Simmel, 1998, p. 144)
A extensão da pesquisa sobre ruínas para a área das artes, especialmente da dança, busca associar essa percepção do estado de ruína das construções com a ativação de memórias [em ruína] e de um estado de corpo que dialogue com essa paisagem. A ativação de memórias é prática e método de criação-composição nas artes e encontramos na literatura de Leminski as primeiras indicações do trabalho sobre o conceito, utilizado para reformular paradigmas hegemônicos.
Convocamos/invocamos Leminski ainda na Beira da Linha, onde estávamos experienciando a improvisação em dança em busca de uma consonância com um lugar que remetia em vários aspectos físicos ao arruinamento, embora desafiasse a noção de ruína ao trazer também aspectos do cuidado do lugar pela vida humana ali ocupante. As plantas da Casa estavam em vasos e, embora a terra das paredes convidasse ao florescimento de outras vidas, [musgos, aranhas, morcegos, entre outros] a vegetação no interior havia sido contida para que pudesse receber os cuidados humanos. Ao mesmo tempo que contêm, os vasos são utilizados na intenção de manter vivas as plantas, em locais onde não floresceriam, se não fosse o ato humano de aguar, ou que, na verdade, floresceriam transbordando o espaço do controle humano, para além da vontade, intenção estética ou ilusão ética que condiciona a territórios delimitados.

“bordando poeira” – experimentações de Luís Gabriel com o aguar das plantas na Casa da Beira da Linha. Fotografias de 14 de março de 2024. Fonte: Acervo do Grupo Radar 1
Agora, já em 2025, saímos para vivenciar outro entorno. As trincheiras, segundo a própria toponímia da rua onde fica o NAC [Rua das Trincheiras], nos levam a muitos movimentos e tempos diferentes; acionam memórias de outros lugares, mais distantes, e criam novas memórias que se colam àquela paisagem pontuada por arquiteturas em ruínas.
[…] percebemos a potência do caminhar também para nos fazer tropeçar nas ditas rugosidades do espaço urbano. A imagem do tropeço evoca aqui, ao mesmo tempo, a imprevisibilidade própria dos espaços públicos enquanto espaços do político, quanto o deixar-se afetar corporalmente pela presença dos diversos tempos na cidade. […]
Desta forma, consideramos também o tempo cotidiano como acervo histórico, capaz de revelar os restos de outros tempos; seja a história hegemônica contada pelos monumentos instituídos, seja, em contrapartida, as histórias que já vêm sendo contadas pelos muitos outros, segundo a expressão cara a Ana Clara Torres Ribeiro. (Rocha, 2019b, p. 93-94)
Antes de partirmos para as ruas, para experimentarmos o entorno do NAC, nos dedicamos à leitura do texto de Marília Garcia (2018) Parque das Ruínas – um texto poético que reúne, em torno de uma pesquisa situada [em Paris], uma nuvem de elementos; dados históricos, obras de arte, histórias sobre obras de arte, práticas de fotografia, referências cinematográficas, em um ensaio sobre aprender a ver. O texto de Marília Garcia é também referência de uma forma outra de escrever, pois parece mesclar tipos textuais artísticos com o rigor arquivístico que beira o científico.
Com as provocações e as afetações do texto de Garcia, caminhamos atentos/as às memórias que se formavam e se reformavam diante do caminho e da experiência de caminhar. Questionamos a história daquelas ruas em face do que estava sendo dado a ver durante a experiência, ao passo em que revisitamos nossa própria memória. Confrontamos o imaginário do passado com fabulações sobre devires outros.

Escadaria de um antigo palacete que hoje abriga a função de uma gráfica. 13 de março de 2025. Fonte: Acervo do Grupo Radar 1
[…] Uma cidade se lê com o corpo. Atrás da igreja do Cabral. Uma cidade não se lê com os olhos. Duas quadras acima da Praça Zacarias. Uma cidade não se lê com o corpo. Uma cidade se lê com a vida. A vida sabe ler? No cruzamento da Kennedy com a Vicente Machado. Detesto cidades fáceis de ler. Só amo cidades que já sei de cor. Minha vida sabe de cor uma cidade. Cada rua, cada ruína. Uma rua, ruína de milhões de passos e pegadas, de encontros fortuitos. Melhor mudar de calçada. E de pontuais desencontros. Uma transversal da como é mesmo o nome daquela que passa atrás do campo do Atlético? Ruínas imateriais. Tem noites que sonho passar por lugares que não existem mais. Do lado do Colégio Santa Maria, onde hoje é um banco, em meados dos anos 1960 havia uma gráfica. Ainda ouço as máquinas. Ruínas de sons, ruínas de lembrança. […] Uma cidade se lê com tudo. Uma cidade se lê em todas as direções. Uma vida é muito curta para que se saiba de cor mais de uma cidade. (Leminski, 2012, p. 170-171)

Descida da escadaria – gestos performáticos de Líria Morays. Fotografias de 13 de março de 2025. Fonte: Acervo do Grupo Radar 1
Foi proposto [por Isabel] às pessoas do grupo que investigassem estados corporais (Domenici, 2008; Laranjeira, 2015) a partir da relação entre esses lugares, tendo como ação de partida que se permitissem demorar mais nos lugares que as afetavam, degustando paisagens, cores e sensações enquanto caminhavam. A partir da experiência física in loco, foi pedido que as pessoas do grupo fizessem escritos, cartografias e outros registros sobre as vivências, além das percepções compartilhadas durante o trajeto e logo após. Tais escritas se entrelaçam com a própria experiência, compondo com ela, ora contextualizando e refletindo os experimentos, ora relatando memórias que emergiram nas caminhadas.
Foram três encontros e um carnaval no meio. As escritas produzidas a partir do primeiro encontro, em 6 de fevereiro de 2025, atuaram nesse entremeio e perduram, como forma de continuar um movimento iniciado, estendendo-se para além da materialidade. Aqui, nos misturamos ao escrever; revelando memórias inacabadas e fomentando o imaginário de outros movimentos possíveis. Mas também falamos [e movemos] a partir de nossas experiências pessoais. As escritas que emergiram das ruínas atuam como fabulações, um jogo entre o que é da memória e o que é criação/invenção. Remetem desta forma, a poemas-performance, à maneira de Garcia, borrando as fronteiras entre o eu lírico e o eu biográfico (Rocha; Martins, 2021).

“parece uma carta de tarot” – gestos performáticos de Artur Xavier – Chegada na Balaustrada da Rua das Trincheiras – Fotografias de 13 de março de 2025. Fonte: Acervo do Grupo Radar 1
Fragmentos de vida em escritas de [de]composição
Caminho pela Av. João Machado e adjacências. Corpo atento às casas abandonadas, aquelas lacradas, as que estão à venda, as habitadas e as invadidas. O mote ofertado é a ruína.
Fui colecionando diferentes imagens, texturas e cheiros. Os casarios não se conectaram com as imagens que me remontam à Salvador. Há algo de singular nessas paisagens que não sei nomear, apesar de haver algo comum com os centros de outras cidades – centros esquecidos! A parecença se dá pela atmosfera de abandono da arquitetura e das gentes que ali (sobre)vivem.
Farejo cheiros
De umidade
De humildade
De humilhação. São muitas as vidas precárias.
Mofo,
Ervas daninhas,
Pisos encardidos,
Muros pichados,
Acessos negados.
Como sinto/vivo o abandono dos lugares que já foram habitados?
Casarios imponentes em frente à Casa das Voluntárias
Mangueiras divisam os lados
Ao contemplar as ruínas, aprendo a ver o lugar
Enquanto os de posses tem morada eterna garantida
Mulheres e crianças habitam e reanimam ruínas.
A cidade, o centro, os habitantes e as ruínas ecoam silêncios em mim.[7]
As imagens se formam junto aos e nos corpos participantes do experimento. “Deixa o tempo trabalhar” poderia ser um fundamento de ruína. Há muitas ruínas nestas ruas, onde se pode testemunhar o contraste entre o que se degrada e o que se renova, como argumenta Simmel (1998). O que podemos aprender com a vida que insiste? Nas Trincheiras os corpos se movem comprimidos e apressados pelo escasso espaço e são embalados pelo fluxo intenso dos automóveis. Quase não há pedestres exceto pelas mães/tutores que buscam seus filhos numa creche municipal de fachada azul e branca.
Mais adiante, deparamo-nos de frente a um casarão velho, inabitado, imponente e de localização estratégica: de lá avista-se uma perspectiva da cidade. Bárbara conecta-se com a vegetalidade que se impõe; “mangueiras divisam os lados”. Isabel escreve num papel: “aterrei nos pés de manga”, se perguntando se ainda existiriam as mangueiras do quintal daquela que foi a casa dos seus avós, em Natal. Outras vegetalidades se nos apresentam no experimento e passam a existir também nos nossos poemas-relatos.
Lembro também da primeira ruína que entrei e tinha muito lixo ao redor e muitas paredes abertas que era possível ver o outro lado da rua ou o céu aberto. De repente, na saída, encontro um pé de aroeira muito frondoso e abundante – não hesitei em colher alguns galhos… Era um arbusto cheiroso em meio a tanto lixo… era vida no meio do caos… nessa casa da aroeira todos disseram que ouviram que alguém escutava rádio… eu não ouvi, era longe e baixo pra mim… lembrei da música do Caetano Veloso “Alguém cantando longe daqui… alguém cantando alguma canção… a voz de alguém nessa imensidão…”
Dessa casa sobra o afeto só da aroeira… as folhas desse arbusto lembram também a minha avó e a minha mãe… talvez esse arbusto seja o curandeiro desse lugar… não tive vontade de permanecer nesse espaço por causa da quantidade de lixo… O corpo trava… não quer mover no cheiro forte de lixo.
A casa dos portais, a casa aroeira e a casa das crianças… me imagino dançando entre esses imaginários… tecendo a lembrança das ruínas que agora ao escrever já não me sobram tantas informações, minha memória só guardou alguns cacos…[8]
Há imagens que só a escrita pode criar, como a que Líria nos faz “ver” nos cenários entrelaçados na memória e nos estados de corpo ativados pelo experimento proposto; cenários de dança. Aqui, neste texto, trazemos uma montagem com trechos dos relatos que se completam na construção imagética das paisagens compartilhadas em vivência. Tais paisagens, quando relatadas, admitem afetos e atualizam memórias a partir do seu compartilhamento, quando entram em diálogo histórias e pesquisas [antes] individuais que se dão a ver nas corporeidades, compondo mapas de registro coletivo.
Ser o ponto-eixo de tempos cruzados e ainda experienciar o que se imagina e o que realmente vê.
Mas o que estamos realmente vendo neste momento? O presente que está sendo percebido por nossa visão, ou o passado evocado pela memória que, por ser tão vívido, quase é palpável? Qual parte do corpo está executando o ato de “enxergar” na ação? Os glóbulos oculares que desempenham essa função, o corpo que passa a retomar o estado corporal que se estruturou no momento do ocorrido ou a imaginação que constrói uma foto-memória no momento da atividade? Não sei responder por agora, mas percebo o desejo de indagar.
Nos momentos que outrora passei por essa rua, a imponência e o semblante antigo da arquitetura me capturavam a visão. Entretanto, nessa oportunidade de chegar próximo do local, os detalhes da grade me chamam a atenção: seu tamanho, sua cor laranja, a textura da ferragem e a ligação com figurinos de carnaval me leva a pensar na [Arielle] minha baiana rica[9] – meu objeto de pesquisa atual. Abro uma fresta no experimento para canalizar uma breve experimentação interna da minha pesquisa. Sou tomado pelo desejo de sentir o desenho da grade posto sob minhas costas. Viro-me à rua, apoio minhas costas centralizadas em uma dessas figuras que se repetem ao longo da extensa grade e permaneço ali, imaginando a imagem que se forma do meu corpo junto a essa ornamentação.
Repousado neste lugar sinto nas laterais do meu rosto uma dormência partindo da região do músculo risório até o topo da cabeça, sensação antes nunca experienciada. Fecho os olhos para me concentrar na sensação, tendo em vista que tinha outros radarianes [como integrantes do grupo Radar 1 se chamam] próximos a mim me possibilitando ficar com os olhos cerrados.[10]
É interessante perceber que, ao convocar a memória individual no instante presente em que nos deparamos com esses lugares, ao mesmo tempo em que lembramos de acontecimentos anteriores em nossa vida, há um desalinho temporal sobre os acontecimentos. O imaginário está livre para escolher o que veio antes ou depois e de eleger cacos nas lembranças que deixam as vivências mais significativas fazerem parte e serem protagonistas dos acontecimentos. Parece-nos que olhar para as ruínas é a possibilidade de elegê-las como uma realidade tal/qual se encontram; com muito valor em meio às construções “úteis”. Esse olhar se traduziu nos relatos produzidos, como os que se seguem.
Ah antes disso me encontrei com umas crianças que merecem memória.
uma imagem, algumas
cinematográficas
um par de gansos com os quais trato de aprender alguns gestos.
São encantados e talvez importados, será? Quem importará patos?
Parecem compor um filme inglês, junto ao cachorro e a casa gigante, ainda habitada.
Do outro lado da rua uma ocupação,
tem um letreiro do imóvel que diz “associação de voluntárias”
muitas crianças habitam ali
e um pixo me chama atenção, ele diz “fé nas crianças”
mensagem que me chega enquanto vejo do outro lado da rua e brincamos de dar tchau[11]
O cenário é uma ruína exposta de um sistema econômico falho, excludente, que negligencia o direito da vida com qualidade para quem está fora da curva, à margem. Nomes pichados nas paredes com declarações de amor e corações tortos é um sinal que ainda é um espaço de vida. Uma menina que vestia uma blusa rosa, de pele negra, retinta, me chama atenção. Ela nos observa com olhar curioso e boca entreaberta enquanto fica paralisada por dentro do muro baixo da propriedade. O tom rosa de sua blusa fica forte para mim pois é o mesmo tom do vestido que Arielle costuma usar, o mesmo vestido que me apareceu na visão. Uma cena me conectou à outra. Há conexão entre passado e presente, o que é vívido e o vivido; o que me pertence, mas comunga também da existência do outro.[12]
Os relatos se conectam e compõem uma nova totalidade por vir. O gesto da composição aqui apresentada pode ser considerado o retrato de um processo, a exemplo da ruína simmeliana. No entanto, “aprendemos a ver” – aspas para nos manter em diálogo com Marília Garcia – com outros poros e sentidos. O cheiro e o som, como também o tato e o paladar, trazem esses outros elementos que provocam e criam memórias, revelando ruínas que admitem elementos de naturezas diversas.
O corpomapa (Morais, 2015) se conecta com o corpo-território no momento em que este confronta as histórias dominantes dos lugares, especialmente aqueles tidos como de “interesse patrimonial”, colocando-se como saber e “invenção de outros modos de vida”, segundo Verônica Gago.
O corpo-território possibilita o desacato, a confrontação e a invenção de outros modos de vida, e isso implica que nessas lutas se viabilizem saberes do corpo em seu devir território e, ao mesmo tempo, o indeterminem, porque não sabemos do que é capaz um corpo enquanto corpo-território. Por essa razão, corpo-território é uma ideia-força que surge de certas lutas, mas que possui a potência de migrar, ressoar e compor outros territórios e outras lutas. (Gago, 2020, p. 110)
Tomando a ideia-força de corpo-território como ferramenta para a compreensão da potência ético-político-estética do experimento sobre ruínas, vemos a possibilidade de composição de imaginários a partir do corpo em afetação no contexto espacial, social e territorial. Imaginamos a belle époque que a cidade da Parahyba conheceu, em seu apogeu moderno, em decorrência da economia do algodão (da Costa, 2020). Em contrapartida, pressupomos a existência de corpos racializados, sustentando a economia, as casas, as vidas das classes beneficiadas.
A volta para um passo de dança
Em julho de 2025, retornamos à rua das Trincheiras revisitando algumas ruínas. A sensação de reencontro animou a caminhada sob o céu azul, saboreando o sol de inverno. Experimentamos a lentidão, bordada de pausas mais longas.
A certa altura, atravessamos a rua e nos colocamos em um estreito canteiro que separa a via que desce, da outra que sobe um intenso fluxo de automóveis e ônibus. Estávamos na direção de um imponente casarão que fica no alto, já mencionado aqui. Com suas janelas e portas nuas que parecem nos ver, mas não nos permitem adentrá-la, instauramos desse lugar uma investigação da contemplação do que está posto diante de nós, assim como experienciamos a lentidão do mover que contrasta com a velocidade dos carros. Mesmo sem plano pré-estabelecido, no instante do acontecimento, como o lugar move imagens em cada um de nós, uma composição se estabelece. Desde uma escuta fina entre nós e do lugar, manejamos diferentes texturas (vistas e tocadas), rastros de gestos do outro, recortes visuais do entorno e imagens sensório-motoras.
Experimento do meio-fio. Participaram Beatriz, Artur, Bárbara [Isabel e Líria – na experiência completa][13]. Fotografias de 17 de julho de 2025. Fonte: Acervo do Grupo Radar 1
A relação do corpo que se movia com rachaduras do chão se misturava com as plantas ao meio-fio, bem como à imagem do casarão acima, imponente, que tinha a seu fundo o céu azul. A perspectiva da qual percebíamos, permitia-nos estar no fundo azul da tarde, bem como sentir o amarelo morno do pôr-do-sol, trazendo a vontade de fechar os olhos. Revisitar o casarão junto ao grupo construiu novas memórias e, dessa vez, com mais movimentos dançados, como se estivéssemos mais à vontade com os lugares os quais íamos revendo [e nos re-víamos]. Instaurou-se a pausa sem pressa de estar, de se deixar em movimento, no lugar que tem força do tempo, tempo deixado em desgaste, tempo cheio de memória visível em apagamentos. O corpo em experimento dançado se amalgama nessa superfície, traduz em movimento a sua força de tantos outros tempos.
Ao realizar este movimento de escrita, neste ensaio – como o desfecho de um processo de criação que se dá a ver – o Grupo toma a liberdade de dançar com a história apresentada, ou despertada, pelas estruturas em ruínas. Relacionamos a necessidade da dança de ser [também] escrita com o que formulou Alexandre Américo a respeito da notação em dança:
E essa dança, por privilegiar a sua qualidade de efemeridade, negligencia, recorrentemente, suas estruturas de notação escrita em prol do seu fazer prático e cinético.
De modo agravante, quando se trata da elaboração da experiência em dança por corpos racializados, a notação escrita revela-se como um recurso ainda menos oportuno. Logo, a iminente exclusão de nossos corpos em ambientes coreográficos de arte. Sentindo e pensando nesta questão, é que tenho tentado hackear e compartilhar ferramentas de conceituação e roteirização para corpos que, historicamente, por uma questão de classe e racismo estrutural, não tiveram acesso, bem como eu, ao modo de produção vigente do sistema de arte. (Américo, 2024)
Aqui, compreendemos como essa dança de memórias se revelou um potente registro, deslocando o legado colonial, de sua centralidade hegemônica histórica, para dar a ver relações humanas e mais-que-humanas, decoloniais ou contracoloniais (Bispo, 2023). Este ensaio se torna, ainda, a ferramenta para levar ao público a produção cênica experienciada, cujo suporte não poderia ser outro senão [uma abertura a] a imaginação.
Referências
AMÉRICO, Alexandre. “Bípede sem pelo: plano coreográfico”. In.: Quarta Parede. Dossiê #20 Territórios em Trânsito. 23 de dezembro de 2024. Disponível AQUI Consultado em 22 de maio de 2025.
BISPO, Antônio dos Santos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora / Piseagrama. 112p., 2023.
DA COSTA, Paula Augusta Ismael. “Da popularização do entorno à evasão da elite: a Rua das Trincheiras, João Pessoa-PB”. Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online), v. 18, p. 1-18, 2020.
DOMENICI, Eloisa Leite. Estados corporais como parâmetro de investigação do corpo que dança. In: Memória do V Congresso da ABRACE. 2008.
GARCIA, Marília. Parque das ruínas. São Paulo: Luna Parque, 2018.
GAGO, Verónica. A potência feminista, ou o desejo de transformar tudo. Tradução de Igor Peres. São Paulo: Editora Elefante, 2020.
LARANJEIRA, Carolina Dias. Os estados tônicos como fundamento dos estados corporais em diálogo com um processo criativo em dança. Revista Brasileira de Estudos da Presença, v. 5, n. 3, p. 596-621, 2015.
MORAIS, Líria de Araújo Corpomapa: o dançarino e o lugar na composição situada. Tese de Doutorado. PPGAC – UFBA – 2015.
RIBEIRO, Ana Clara Torres. Homens lentos, opacidades e rugosidades. Redobra, Salvador, v. 9, p. 58-77, 2012.
ROCHA, Maria Isabel C. M. Et al.. Sessão Livre: Ruínas enquanto tempo produtivo ou das sobrevivências enquanto potências no espaço. In.: Anais do XVIII ENANPUR “Tempos de/em tranformação – Utopias” Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – Natal, 27 a 31 de maio de 2019a. Disponível AQUI Acesso em 21 de março de 2025.
ROCHA, Maria Isabel C. M. Estudo prático sobre [profanar] lugares-monumentos ou Percorrendo cidades. In.: Anais da Conferência Internacional Ressensibilizando Cidades . ambiências urbanas e sentidos, de 02 a 05 de outubro de 2019 / [recurso eletrônico] / Cristiane Rose de Siqueira Duarte e Ethel Pinheiro Santana (orgs.) – Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 2019b. Págs 92 a 96. Disponível AQUI Acesso em 21 de março de 2025.
ROCHA, Mariane Pereira; MARTINS, Aulus Mandagará. Esse poema é uma performance: uma análise da relação entre produtor e eu lírico em “Parque das ruínas” de Marília Garcia, a partir de uma abordagem sistêmica. Raído, [S. l.], v. 15, n. 38, 2021. DOI: 10.30612/raido.v15i38.14534. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/Raido/article/view/14534. Acesso em: 17 jul. 2025.
SIMMEL, Georg. (1998), A ruína. In.: Simmel e a modernidade. Jessé Souza, Berthold Oelze (orgs.). Brasília, DF: UnB, p. 137-144.
TSING, Anna. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
Notas de Rodapé
[1] Coordenado pela Prof. Dra. Líria Morays, o Radar 1 é um grupo de pesquisa com registro no CNPq. site Atualmente composto por Artur Xavier, Bárbara Santos, Beatriz Marinaro, Isabel Rocha, Líria Morays, Luis Gabriel Chaves e Roana Borges Barbosa.
[2] Em 2019, o RADAR 1 realizou uma residência artística no NAC, que consistiu em explorar com improvisações em dança no próprio casarão e ao seu redor durante alguns meses, culminando em uma apresentação artística no próprio casarão durante um mês de temporada.
[3] “É proibido cochilar” foi “uma ocupação para celebrar as muitas mãos e corpos envolvidos nos últimos 4 meses na tarefa – sempre coletiva – de retomada de ações no NAC, um equipamento fundamental na cena das artes de João Pessoa.” Segundo a página Instagram.
[4] A página Instagram da Beira da Linha.
[5] Pesquisadora doutora [inicialmente] da área de arquitetura e urbanismo e atual estudante do curso de licenciatura em dança da UFPB. Integra o grupo Radar 1.
[6] Com a proposta de uma sessão livre no XVIII ENANPUR (Natal, 2019) intitulada “Ruínas enquanto tempo produtivo ou das sobrevivências enquanto potências no espaço” e com a apresentação do artigo “Estudo prático sobre [profanar] lugares-monumentos ou Percorrendo cidades através de outras histórias”, na Conferência Internacional Ressensibilizando Cidades (Rio de Janeiro, 2019).
[7] Poema-relato produzido por Bárbara Santos em 10 de fevereiro de 2025, quatro dias após a primeira caminhada-experimento.
[8] Trecho do ensaio-relato produzido por Líria Morays, em 11 de fevereiro de 2025, cinco dias após a primeira caminhada-experimento.
[9] A baiana rica é uma personagem que compõe a corte real dos Maracatus Nação, originalmente interpretada por homens gays, evidenciando a importância da discussão sobre diversidade sexual e performatividade de gênero na manifestação popular do Maracatu.
[10] Trecho do ensaio-relato produzido por Artur Xavier, em 20 de fevereiro de 2025.
[11] Trecho do poema-relato de Beatriz Moreira.
[12] Trecho de continuação do ensaio-relato de Artur Xavier.
[13] A experiência da dança no meio-fio está disponível AQUI