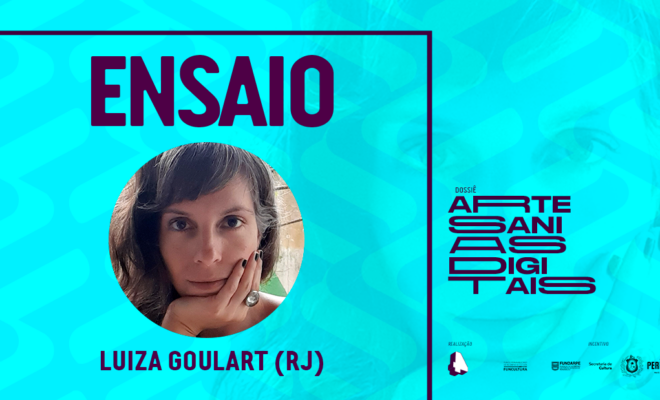#05 Arte e Mercado | Arte, Cultura e Empreendedorismo

Imagens – ‘Take Shape’ – Ballet Memphis e Arquivo Pessoal | Arte – Rodrigo Sarmento
Por Sharine Melo
Administradora Cultural (Funarte SP) e Mestra e Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP)
Capital: s.m. Conjunto do dinheiro e de outros bens que forma o patrimônio de alguém; bem que pode ser aplicado à produção; riqueza capaz de produzir renda.
Investir: v. Empregar (recursos, tempo, esforço etc.) em (algo), esperando obter sucesso.
Empreender: v. Decidir fazer (tarefa difícil e trabalhosa); tentar; pôr em execução; realizar.
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa)
Durante minha pesquisa de doutorado, tive a oportunidade de entrevistar Umberto Magnani[1], que faleceu poucos anos depois. Ao ser indagado sobre o trabalho do artista, o ator me disse:
(…) ele vive do sonho, ele vive pensando em modificações, propostas de modificações (da realidade). Eu encaro como uma coisa quase sagrada mesmo, o que não quer dizer que sejamos excepcionais (…). Ao contrário, quanto mais estivermos atentos e convivendo com qualquer tipo de pessoa, (melhor). Desde (a convivência) com o vizinho, até onde você estiver, numa rodoviária, num aeroporto, (é preciso) ter essa antena ligada.
A fala de Magnani coincide com o trecho de uma entrevista concedida por Jorge Luis Borges (2010), também no final de sua vida. Para o escritor, o trabalho dos artistas consiste em transformar acontecimentos em signos – palavras, linhas e cores, sons, formas e movimentos de corpos. Por isso, segundo ele, “o poeta nunca descansa, nem mesmo quando está sonhando”.
Borges e Magnani dedicaram suas vidas à arte, cada um em sua linguagem, e suas falas revelam mais do que a relação fundamental do artista com o mundo que o rodeia. Elas ressaltam o caráter quase incessante de seu trabalho. É preciso estar sempre atento à realidade e ao sonho, ter uma percepção aguda sobre as pessoas, a sociedade e a natureza, conhecer os afetos e as paixões humanas. É em meio a essa complexidade que os artistas encontram elementos para compor suas obras. Mesmo que se discuta a questão da autoria, mesmo que a arte seja entendida como criação coletiva (como, de fato, é), não se pode negar que os artistas lançam mão de suas habilidades técnicas e de sua subjetividade para realizar seu trabalho, individualmente ou em grupo.
Hoje é amplamente aceito que criar obras de arte não é um dom dos gênios, como sugeriram muitos teóricos, entre eles Kant. Além das inclinações e habilidades particulares, artistas e público se formam a partir de suas experiências cotidianas, da cultura de que fazem parte e do acesso à educação (formal ou não). O fazer artístico e a relação do público com as artes são sempre o resultado de certo investimento nos indivíduos. Esse investimento pode ser estruturado, como em programas educativos de escolas ou equipamentos culturais, ou feito casualmente, ao longo da vida, todas as vezes que alguém ouve uma música ou participa de uma roda de samba, assiste a um filme ou a uma peça de teatro, conversa com os amigos, lê uma notícia no jornal ou na internet…
Por outro lado, são as percepções e os afetos, que emergem desses encontros cotidianos, que os artistas usam como recurso para produzir. Ocorre que essa não é uma característica exclusiva das artes. Já no final dos anos 1970, o filósofo Michel Foucault (2008) percebeu que o sistema capitalista valorizava cada vez mais o trabalho como investimento e fonte de recursos, ou seja, como um elemento do processo produtivo e como um capital: o “capital humano”. Em vez de calcular, como nas linhas de produção, “quantos empregados são necessários, por quanto tempo, para produzir um bem”, empresários e gestores passaram a perguntar “como o trabalhador investe em si mesmo, por meio da educação, e como emprega os recursos de que dispõe”. Nessa perspectiva, que vem se acentuando, os limites entre o trabalho e o descanso são borrados: é preciso estar sempre atualizado, manter relações sociais, formar redes.
Além de exigir um investimento constante em cultura e educação, essa dinâmica busca produzir indivíduos “autônomos”, capazes de conduzir a própria vida nos moldes neoliberais, o que implica em ter uma profissão e um emprego, certa liberdade de decisão e escolha, algum recurso financeiro para adquirir bens de consumo, uma vida saudável, entre outros aspectos. Técnicas diversas de governo, vindas de iniciativas públicas e privadas, são utilizadas na tentativa de alcançar esses objetivos: discursos de especialistas em alimentação e estética corporal, incentivos à atividade física, livros e palestras sobre a liderança no trabalho e cartilhas sobre empreendedorismo e criatividade são alguns exemplos.
Esses enunciados e práticas, que se espalham por meios de comunicação de massa e digitais, incidem sobre os modos como cada um “governa” suas ações e pensamentos, fomentando um processo constante de construção de si, como explica o pesquisador Rogério da Costa (2008). O individualismo exacerbado que essas ideias podem acarretar não será abordado aqui. É suficiente notar que, no campo produtivo, cada pessoa passa a ser vista como uma pequena empresa, apresentando competências e conhecimentos – um diferencial – que são oferecidos em troca de um salário, uma renda.
Nesse cenário, o perfil do empreendedor (aquele que, no jargão econômico, enxerga oportunidades e cria novos negócios) é uma presença fundamental. Segundo Schumpeter (1947), ele é quem se apropria da “potência de criação da sociedade” para “inseri-la no processo econômico como uma inovação”. Mas é possível expandir o conceito: se o conhecimento e as competências individuais são entendidos como um capital, cada trabalhador acaba se tornando empreendedor de si. Mais do que isso: não cessamos de investir em nossas próprias vidas, obtendo recursos não somente da força física, mas também do pensamento, da imaginação e, principalmente, de nossa relação com os outros. Para Rogério da Costa (2008), já não é suficiente extrair os recursos naturais da terra ou a energia dos corpos humanos. É preciso “escavar na subjetividade” e “extrair os recursos psíquicos que fazem a produção econômica funcionar”. Essa forma de trabalho (baseada na comunicação, no conhecimento e no afeto), de alguma maneira, já havia chamado a atenção de Foucault em suas análises sobre o capital humano e, mais tarde, ficou conhecida como “imaterial”.
Não sem motivo, as atividades artísticas e culturais foram tomadas como modelos, por excelência, do trabalho imaterial. Aliado ao desenvolvimento da internet e das indústrias culturais, o conceito também fomentou debates sobre “economia criativa” ou “economia da cultura”, recorrentes entre gestores, políticos e pesquisadores da área. No final dos anos 1990, a cultura e as artes, antes vistas como uma exceção ao processo produtivo (baseado no trabalho fragmentado e repetitivo das fábricas), passaram a ser um dos pilares da economia de países como Austrália e Inglaterra. Pouco tempo depois, a ideia se estendeu aos países em desenvolvimento e avançou sobre aspectos culturais e sociais.

Umberto Magnani no espetáculo ‘Elsa e Fred’ | Foto – Leonardo Pergaminho | #4ParedeParaTodos #PraCegoVer – Imagem colorida de cenário de sala de uma casa. Do lado esquerdo, uma gaiola com um pássaro e no centro, um senhor sentado em um sofá, vestindo camisa social listrada, colete e calças em tons de cáqui. Do lado direito, outra pessoa, mais jovem e vestindo roupas pretas, lhe dá um beijo na bochecha.
Um grande exemplo foi a Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, realizada, em 2005, pela UNESCO (2007). O evento, que teve participação do governo brasileiro, reforçava a visão da cultura como “elemento estratégico” para o “desenvolvimento sustentável”, como “fonte de riquezas materiais e imateriais”, que poderiam contribuir para a “erradicação da pobreza”, a proteção de saberes “tradicionais”, a melhoria da “condição das mulheres”, entre outros temas. Embora tenha sido criticado por muitos estudiosos, principalmente pela visão instrumental da cultura e das artes, grande parte desse discurso ressoa ainda hoje.
Segundo relatório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2016), a economia criativa engloba consumo (design, arquitetura, moda e publicidade), mídias (editorial e audiovisual), cultura (patrimônio e artes, música, artes cênicas e expressões culturais) e tecnologia (pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e tecnologias de informação e comunicação). No Brasil, esse conjunto de atividades representou 2,64% do PIB em 2015. No estado de São Paulo, esse valor chegou, no mesmo ano, a 3,9%. Impulsionado por esse movimento, o campo artístico alcançou uma visibilidade talvez sem precedentes, tendo pautado muitos debates recentes, que repercutem nos meios de comunicação de massa e digitais. Só que as notícias nem sempre são positivas. São frequentes os cortes da verba destinada ao Ministério da Cultura e às secretarias estaduais e municipais.
Também faltam ações de preservação do patrimônio e formação de público. Mas, apesar da crise política e econômica, o número de empregos na área de artes cênicas, por exemplo, cresceu 4,8% entre 2013 e 2015, enquanto os demais setores da economia sofreram uma queda de 1,8% nos postos de trabalho formais. No entanto, os salários em artes cênicas tiveram uma redução de 11,1% no mesmo período. Esses números discrepantes revelam as ambiguidades da economia criativa e, especialmente, da situação do trabalho artístico nesse contexto: a potência para gerar renda e melhores condições sociais convive com a falta de recursos financeiros, situações de trabalho muitas vezes precárias e com a informalidade.
O empreendedorismo (no sentido econômico do termo) surge, então, como uma resposta a essa tendência, uma vez que a falta de postos formais de trabalho acaba levando muitos artistas a abrirem suas próprias empresas, um instrumento necessário para contratações, emissão de notas fiscais e outras demandas de ordem prática. Os artistas também se veem envolvidos em processos burocráticos para a captação de recursos, a redação e a execução de projetos.
Uma situação peculiar ao Brasil é a proliferação de editais de instituições públicas e privadas, voltados ao fomento às artes e à cultura. Esses instrumentos, embora sejam uma forma jurídica democrática para a seleção de projetos, acabam adotando preceitos claramente comerciais. Muitos deles, baseados nas leis de licitação, seguem a lógica da concorrência, transformando artistas e produtores em verdadeiros empresários de si e de suas obras. Mas a ideia do artista como um empreendedor vai muito além da questão estritamente econômica.
Na segunda metade do século XX, diversas narrativas sobre o fim da arte ou o fim da história da arte colocaram em xeque a noção de uma arte universal e autônoma, contestando não o fazer artístico propriamente dito, mas o modo de organização de seus circuitos – compostos, desde o final do século XVIII, por instituições (como museus, galerias e teatros), relações de poder (político, econômico e social) e um conjunto de enunciados sobre estética.
Além disso, no início dos anos 2000, o receio de que o desenvolvimento tecnológico e a globalização pudessem tornar o mundo homogêneo logo foi dissipado por misturas e conflitos entre diferentes culturas. Partindo desse cenário, o antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini (2012) afirma que a arte se tornou “pós-autônoma” porque se diluiu no cotidiano, nos objetos de consumo, na comunicação midiática, nas vestimentas e em outros artefatos culturais. No entanto, segundo ele, os artistas guardam uma singularidade: a aptidão para ouvir as diversas vozes que se elevam na sociedade e “imaginar os desacordos”.
Na prática, muitas questões sociais e políticas, como movimentos LGBTs, negros e feministas, são transformadas em obras, sem que a preocupação estética seja deixada de lado. O espetáculo Farinha com açúcar ou sobre a sustança de meninos e homens, de Jé Oliveira, é um belo exemplo. Encenada pelo Coletivo Negro, a peça conta a história de um personagem que nasceu e cresceu em uma favela:
Apesar de ficção, obra, criação, não teremos ilusão nessa peça. Esse tipo de coisa acontece na vida de alguns. As pessoas morrem de muitos modos, mas alguns modos são moldes das mortes de alguns só. (OLIVEIRA, s.d.)
Os primeiros elementos do espetáculo são a pobreza, a violência e a morte, mas, aos poucos, aparecem os encontros amorosos, as relações familiares e as amizades. A obra poética transita entre o teatro e a música, transformando-se em um manifesto pela vida:
Esse é o nosso manifesto pela existência: a potência do possível das vidas, o respiro mesmo sob os escombros, o efêmero de nós que fica (…). A nossa existência é maciça, é vida que brota dos poros, é solo que vira dueto, é duelo com a morte, é roda de escuta que enxuga todo o sangue derramado por corações rijos. (OLIVEIRA, s.d.)

Espetáculo ‘Farinha com açúcar ou sobre a sustança de meninos e homens’ | Foto – Jorge Martins | #4ParedeParaTodos #PraCegoVer – Imagem colorida de um palco, em que, no plano de fundo, um cenário que simula casas de favela. Diante delas, cinco homens em fila um atrás do outro e com a mão direita no ombro do sujeito à frente. Na parte inferior da imagem, é possível ver a silhueta de pessoas da plateia assistindo ao espetáculo.
Em outros exemplos, o próprio corpo é usado como elemento principal das obras, o que é evidente em coreografias, encenações teatrais e performances, como as de Denise Stoklos ou Maura Baiocchi. Questões de gênero também aparecem com força na arte contemporânea. Nos encontros de poesia falada, no grafite e no hip-hop são os embates entre o centro e a periferia que se destacam. A vida – em toda a sua dimensão social, política e afetiva – é investida nas mais distintas linguagens e correntes estéticas.
O ato de empreender ganha, assim, novos sentidos: apropriar-se da potência de criação (e, por que não?, da potência da própria vida), investir em si mesmo e nas relações sociais, realizar um projeto, empregar recursos, tempo e esforço em busca de uma riqueza (social, cultural ou econômica). Na confluência entre afeto, política, arte e economia, as vozes dos centros e das periferias se elevam e, a partir delas, os artistas encontram elementos para lutar por políticas públicas, discutir questões sociais e, claro, produzir suas obras, abrindo possibilidades para novas estéticas. Também é nesse jogo de forças que cada vida se afirma como uma singularidade, uma diferença, compondo a multiplicidade de culturas e de modos de vida.
Por outro lado, todas essas relações de poder podem germinar aspectos negativos, e o avanço do pensamento conservador, no Brasil e no mundo, é somente um dos efeitos. Em um ambiente composto por vozes tantas vezes destoantes, em que cada indivíduo é convidado a ser um empreendedor de si, os conflitos são inevitáveis e os interesses, cada vez mais fragmentados. Especificamente nas artes, essas questões são visíveis não apenas entre setores aparentemente distintos, como os circuitos comerciais e as linguagens experimentais, mas principalmente entre artistas que, na realidade, têm objetivos comuns: o desenvolvimento de políticas culturais, a melhoria nas condições de trabalho, a formação de público e a qualidade das pesquisas estéticas.
Com isso, acabam se constituindo grupos de interesse em torno de linguagens, de questões socioeconômicas ou raciais, de temas ou estilos, entre outros. As lutas desses grupos certamente são importantes e legítimas. Mas, se há divergências de vozes na sociedade e cada vida é singular (essas são nossas maiores riquezas), é preciso encontrar também consonâncias, pontos em comum que sejam capazes de integrar as potências e apontar novos caminhos coletivos.
É urgente pensar em estratégias para que as artes e a cultura deixem de ser somente um assunto abordado por entusiastas da economia criativa e se insiram, de fato, no dia a dia das pessoas. Para isso, é necessário ir além dos editais e de outros mecanismos de financiamento de projetos artísticos (importantes, mas insuficientes) e, com um propósito comum, pressionar iniciativas públicas e privadas para que invistam em educação, formação profissional de artistas e gestores, equipamentos culturais e patrimônio histórico. As artes só serão realmente valorizadas quando fizerem parte do cotidiano da maioria da população. Assim, os artistas, empreendedores de si como tantos profissionais, poderão espalhar as riquezas do investimento que fazem na própria vida, e as artes farão valer sua vocação, expandindo a potência humana de imaginar.
Referências
BORGES, J. L. (04 de agosto de 2010). Borges explains the task of art. Acesso em: 23 Mai. 2015.
CANCLINI, N. G. (2012). A sociedade sem relato: antropologia e estética da iminência. Tradução M. G. Ribeiro. São Paulo: Edusp.
COSTA, R. d. (dezembro de 2008). Inteligência coletiva: comunicação, capitalismo cognitivo e micropolítica. Revista Famecos. Porto Alegre, p. 61-68.
FIRJAN. (dezembro de 2016). Mapeamento da indústria criativa no Brasil. Acesso em 10 Dez. 2017.
FOUCAULT, M. (2008). Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Tradução E. Brandão. São Paulo: Martins Fontes.
OLIVEIRA, J. (s.d.). Farinha com açúcar ou sobre a sustança de meninos e homens. No prelo.
SCHUMPETER, J. (novembro de 1947). The creative response in economic history. The Journal of Economic History. Cambrigde, v. 7, n. 2, p. 149-159.
UNESCO. (2007). Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Acesso em 10 Dez. 2017.
Notas de Rodapé
[1] Entrevista realizada em 8 de janeiro de 2014.