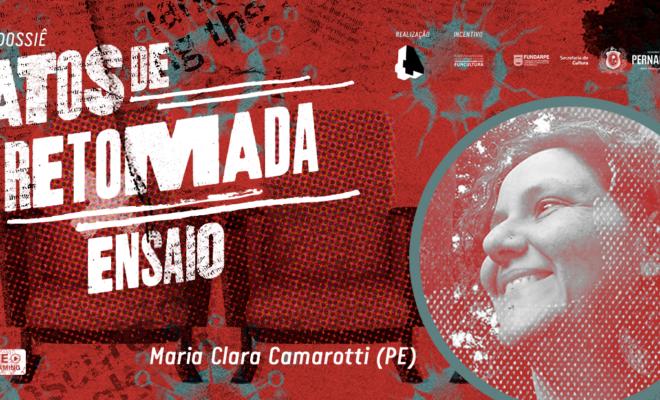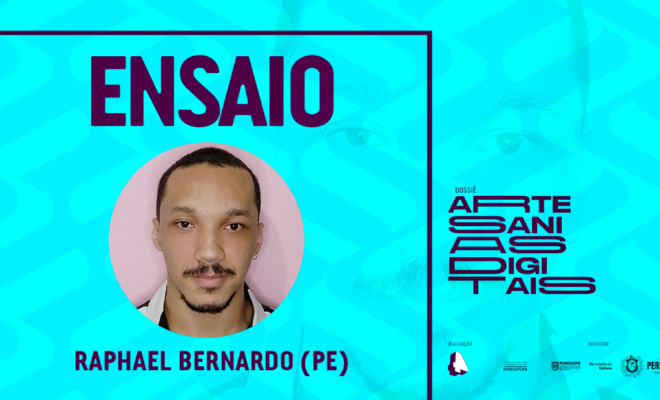#14 Confrontos | Fragmentos sobre imagens de guerra e dor

Imagem – Arquivo Pessoal | Arte – Rodrigo Sarmento
Por Hélio Batista de Oliveira Júnior
Mestre em Arte e Cultura Visual (UFG) e Bacharel em Artes Plásticas (UFG)
Este ensaio brota perante uma constante observação entre a minha experiência com imagens de guerra que, vez ou outra, passavam pelas minhas pesquisas durante a graduação e que, por final, respingaram na minha pesquisa de mestrado.
Estudo essas imagens para compreender a nossa forma de agir perante o confronto, a alteridade e as infinitas dores do mundo, seja enquanto artista ou ‘confrontador’ disso tudo. Por ter me desgastado bastante com as imagens pesquisadas até o momento, vou me ater a somente uma imagem durante o ensaio, mais precisamente da Guerra do Vietnã.
Meu olhar aponta para imagens de guerra que evocam a violência e o horror, imagens que desmistificam e chancelam os mais obscuros problemas oriundos do recalque humano, de sua natureza, algumas de suas causas e muitas das suas consequências. Imagens em que a violência nos atropela, nos embaralha, liquefeita o seu estado e se despede para, em seguida, retornar ao mesmo ponto de partida e mandar lembranças ao corpo colado no sujeito.
Nesse contexto, a experiência diante da guerra, da miséria e da humilhação provoca a sensação de que a vida, a palavra e o corpo vão desaparecendo de nós aos poucos, empurrando-nos para caminhos em que a precariedade se torna a única forma de confessar a nossa existência. Contudo, a banalização dessas imagens pelo mundo beira a um espetáculo que, no geral, inverte essa lógica, criando ‘produtos’ para nos fazer acreditar que as máquinas de guerra atuam em um movimento independente da nossa esfera cotidiana.
Lidar com essas e outras imagens de violência significa mobilizar um consumo de imagens truculentas que parecem não mais permitir que reconheçamos o sensível diante de sua experiência, mas somente operá-las a partir de um mercado que se mostra cada vez mais vasto e nefasto em seus alcances.
Na minha dissertação (SANS)CORPS: Possíveis fugas imagéticas de performances (in)visíveis (acesse AQUI), discuto algumas imagens geradas durante algumas guerras no decorrer da história e as visualidades de dor que, a partir delas, foram geradas. Nesse contexto, concateno alguns questionamentos acerca dessas imagens de arquivos a um olhar em que a performance aparece como a ação exercida pela (e através da) experienciação do ser no mundo. Em suma, procuro lançar um olhar sobre as imagens de guerra que me permita refletir sobre como os gestos de violência que permitiram sua existência resvalam na experiência de consumi-las.
Nesse atrito entre imagens que nos mobilizam e nos paralisam, o horror parece estar na imobilidade de algumas paredes que nos atravessam ou na forma natural com que lidamos com toda a violência que nos cerca. Ocupar um olhar diante dessas imagens significar pesar e pensar na atualidade dos inúmeros sinais de efervescência mundial e nas novas guerras que podem estar por vir.

A foto que se tornou símbolo da Guerra do Vietnã, depois de um ataque de napalm em 8 de junho de 1972 | Imagem – Nick Ut/AP | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem em preto e branco de uma rua ampla, em que a menina Kim Phuc, aos 9 anos, corre aterrorizada com várias crianças, seus irmãos e primos. Ela está completamente nua e corre em nossa direção, chorando copiosamente como as outras crianças. Ao fundo, soldados caminham na mesma direção que elas.
A imagem aqui tratada demonstra não possuir uma natureza própria, que consiga, em si, separá-la de maneira estável, negociando com estas as suas semelhanças/diferenças e o discurso de seus sintomas. Essa imagem foi produzida durante a Guerra do Vietnã e mostra crianças sendo atacadas em território vietnamita, transmitidas em tempo real por uma equipe de televisão para o mundo todo, tornando uma visibilidade específica, a estética do desagrado e do horror.
Ao deter nosso olhar em imagens como essa, revelamos excessos e desejos que parecem manifestar modos de desfigurar e desumanizar o outro. Nesse contexto, parece possível compreender que vivenciamos uma cultura de consumo de imagens que, constantemente, oferece gestos de violência como produtos para uso imediato.
O desafio da atração e da sedução por imagens de violência – sobretudo as de guerra – triunfa na incerteza da aparência de um precipício de interpretações. Incerteza que abrange e expõe nossas vulnerabilidades a uma diversidade de impulsos, diante de um processo que nos provoca, muitas vezes, de forma intrusiva e insistente.
Ao consumir essas imagens de forma irrefletida, alimentamos um mercado que se sustenta na satisfação instantânea das pulsões e na intensidade das emoções como oferta, reforçando dinâmicas precárias em alteridade. A violência no cotejo dessa única imagem aqui neste ensaio acontece por um desejo de compreender o que nos envolve entre o que nos é próprio e estranho.
No entanto, nesse lugar entre aquilo que consideramos nosso e aquilo que estranhamos, expresso aqui certa contradição entre o desejo de falar sobre a violência NAS imagens e a perpetuação da violência DAS imagens. Penso que, talvez, o desejo de denunciar e provocar o outro a olhar para a violência contida nas imagens provoque, em efeito contrário, certa exaustão por um ‘excesso’ de desejo de ‘tornar visível’:
A coação por exposição nos rouba, em última instância, nossa própria face. Desse modo, a absolutização do valor expositivo se expressa como tirania da visibilidade. O problemático não é o aumento das imagens em si, mas a coação icônica para tornar-se imagem. Tudo deve tornar-se visível; o imperativo da transparência coloca em suspeita tudo o que não se submete a visibilidade. E é nisso que está seu poder e sua violência (HAN, 2017, p. 35)
Ao consumirmos imagens como essa, nos tornamos vulneráveis a fatos perturbadores em forma de imagens fotográficas que concatenam com a nossa atualidade. Essa vulnerabilidade faz parte da passividade de um duplo espectador que vê fatos construídos, em primeiro lugar, pelos atores envolvidos em um evento e, em segundo, pelo próprio criador da imagem. Ressentimos, projetamos e ecoamos nossas experiências diante dessas imagens, em um modo de sentir que organiza as nossas dimensões coletivas por meio de uma partilha estética que parece nos colocar em um lugar entre pulsões de vida e de morte. Desta forma, como, então, falar de violência sem criar para ela imagens?
Ao alimentarmos o imaginário de que viver em uma sociedade da informação cria uma demanda por consumir mais imagens e acelerar o nosso ritmo de vida por meio de aparatos tecnológicos, damos passagem e prolongamos, a qualquer custo, certa histeria cotidiana. Para além desses arquivos de guerra, estamos todos em um mundo de tremores, contágios e nostalgias que se alimentam a partir da identificação e da receptividade dessas imagens de violência que nos atravessam, tornando-nos cúmplices de tais representações:
Uma sociedade capitalista requer uma cultura com base em imagens. Precisa fornecer grande quantidade de entretenimento a fim de estimular o consumo e anestesiar as feridas de classe, de raça e de sexo. E precisa reunir uma quantidade ilimitada de informações para melhor explorar as reservas naturais, aumentar a produtividade, manter a ordem, fazer a guerra, dar emprego a burocratas. (SONTAG, 2004, p.195)
A pulsão de identificação gerada no momento imediato de partilha alimenta uma reciprocidade de trocas do sentir e ser afetado por estas imagens, que esgarçam as emoções psicológicas e as representações culturais e parecem remanejar emoções e sensações num infinito sentir tudo. Nesse movimento, esse consumo desenfreado de imagens de dor e violência, certamente, parece resultar em um processo excessivo, supérfluo, inadequado e inútil. Assim, parece que nos tornamos reféns de um esquema mudo e estéril que, ao tentar maquiar o espaço vazio, o silêncio, a ausência, distorce nossos desejos e nos leva para passear pela zona da confusão e pelo regresso ao caos.
Em meio a esse silêncio atravessado por caos, esse ensaio busca, em sua precariedade, escavar certa consciência diante dessas imagens e, nesse movimento, reconstituir sua memória. Se, para Debray (1993), ‘uma imagem do passado jamais estará ultrapassada porque a morte é o nosso limite inultrapassável e porque o inconsciente não tem idade’ (p. 40), atritar reflexões possíveis sobre a gestação e consumo de imagens como essa nos permite pensar como suas memórias também constituem nossa própria memória.
A memória e a cultura visual em que essas imagens de guerra, dor e violência fazem seus casulos são abrigadas no calabouço de nossas experiências – e, por meio destas, damos e perpetuamos testemunhos. Assim, essas imagens funcionam como testemunhos de nossos desejos de morte e sobrevivência que tentam, ao mesmo tempo, imitar (e nos fazer escapar d)o mundo em volta. Nesse sentido, parecem fortalecer certa contradição de, ao se apresentar como registros de violências, também atuam, de certa maneira, como cúmplices dessas mesmas agressões.
Referências
DEBRAY, Regis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. Tradução Guilherme Teixeira. – Petrópolis, RJ : Vozes, 1993.
HAN- Byung-Chul. Sociedade da transparência / Byung-Chul Han. Tradução: Enio Paulo Giachini. 1ª edição ampliada – Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução: Rubens Figueiredo. – São Paulo: Companhia das Letras, 2004.