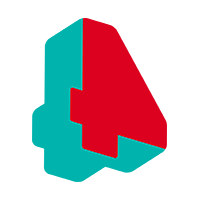#12 Feminilidades | Escavando Arquétipos, Guerreiras Ancestrais

Imagem – Fabio Gark De Magalhães | Arte – Rodrigo Sarmento
‘Nesse caminho de me entender feminista, comecei a perceber os obscurecimentos de mulheres artistas como eu e a me assumir como diretora, encenadora e dramaturga, a legitimar o caminho de criação mitodológico e as narrativas pessoais como modos de descolonizar um imaginário patriarcal de criação.’
Nosso dossiê Feminilidades continua com a colaboração da artista e pesquisadora Luciana Lyra (UERJ), que, nessa entrevista ao nosso editor-chefe, Márcio Andrade, nos ajuda a refletir sobre as potências dos mitos e arquétipos na criação dramatúrgica para lidar com os imaginários do feminino e do feminismo.
Luciana Lyra nasceu em Recife, é atriz, performer, encenadora, diretora, dramaturga e escritora. Professora efetiva do Departamento de Arte e Cultura Popular e da Pós Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É também pós doutora em Antropologia pela FFLCH/USP, pós doutora em Artes Cênicas pelo DEART/UFRN, doutora e mestre em Artes da Cena pelo IA/UNICAMP.
Fundadora de seu estúdio de investigação, UNALUNA – PESQUISA E CRIAÇÃO EM ARTE (acesse AQUI), atua como atriz na Companhia de Teatro Os Fofos Encenam, em São Paulo, onde trabalhou como atriz em Assombrações do Recife Velho e Memória da Cana. Lyra atuou como dramaturga na criação dos textos A droga da obediência (adaptação-1998), Annexo Secreto (2003), Guerreiras, publicado em 2010, Lunik (Prêmio Criação Literária – Texto de Dramaturgia 2011/ProAC-2011), Sobre Homens e Caranguejos (2012), Njilas (2013), Obscena (2015), Cara da Mãe (2015), Josephina (Prêmio Criação Literária – Texto de Dramaturgia/ProAC-2016), Fogo de Monturo (2015) e Quarança (2016), sendo estes dois últimos compilados e publicados, em 2017, sob o título Dramaturgia Feminista. É autora também do romance infantojuvenil De como meninas guerreiras contaram heroínas (2011) e do livro de poesia em prosa O Banquete – Escritos Mínimos a Afrodite (2018).
Para saber mais sobre sua trajetória, acesse AQUI.
Luciana, como começou tua relação com as artes cênicas – e mais especificamente, com as questões do feminino na arte?
Comecei a fazer teatro em Recife na década de 1990, no Colégio Contato. Depois já com 17 anos, participei de um teste para entrar no Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP) e passei. Eu não tinha interesse em estudar teatro formalmente a princípio, mas me encantei em estar no palco, por que realmente senti que ali era um espaço profundo de autoconhecimento que precisava descobrir.
Com o tempo, foi ficando mais sério até que durante minha formação em Direito (UNICAP) e minhas atuações nas peças do TAP, resolvi também fazer vestibular para artes cênicas na UFPE. Logo após as graduações, comecei a dar aulas e entrei também numa Especialização em Ensino da História das Artes e das Religiões (UFRPE).
Uma das primeiras relações que eu tracei conscientemente com a questão do feminino nas artes cênicas foi, em 2000, quando eu estava fazendo um curso de extensão em direção teatral com o Prof. Roberto Lúcio (UFPE). Na proposição do curso, todos precisavam finalizar com a direção de uma cena. Nessa época, eu tive um sonho com uma mulher montada sobre um cavalo, usando uma longa saia vermelha e com umas correntes quebradas nas mãos.
Ela cavalgava nua da cintura para cima, como uma mulher guerreira. Eu acreditava que essa imagem tinha vindo de um lugar bem íntimo e que eu queria dar vazão a ela de alguma maneira. Daí resolvi dirigir a cena solicitada pelo professor com base nesta imagem do sonho. A performance chamei de Joana In Cárcere, e aproximei esta guerreira onírica da figura mítica de Joana d’Arc.
Na especialização, havia estudado sobre ritos e mitos e fui me interessando muito pela relação entre ritual e cena em Joana In Cárcere. A partir da Joana resolvi fazer um Mestrado em Artes da Cena, na UNICAMP, em Campinas-SP. Meu orientador passou a ser o Renato Cohen[1], um dos maiores estudiosos da performance no Brasil, que discutia essa linguagem, que não é nem teatro nem a dança, trafega num ‘entrelugar’ que oferece muito espaço para que o artista trame pulsões absolutamente pessoais, idiossincráticas como matéria da cena.
Nessa época, também conheci Newton Moreno, em São Paulo, que me chamou para assistência de direção no espetáculo Assombrações do Recife Velho, entre 2003 e 2005, e acabei entrando na companhia Os Fofos Encenam também como atriz. Tudo isso em paralelo com as pesquisas no mestrado.
Na dissertação, defendida em 2005, eu acabei por associar o ritual da performance ao ritual tradicional do cavalo-marinho pernambucano e fiz uma ponte entre a linguagem contemporânea e a popular, tendo como vértice a minha performance Joana in Cárcere. Nesta cena, a Joana aparecia como uma capitã do boi, uma guerreira pernambucana, transgredindo o papel do capitão, sempre circunscrito no campo do masculino.
Na performance do mestrado, não tratava Joana exatamente como uma personagem tradicional de teatro, mas com orientação de Cohen entendia que ela transitava sob a ideia de ‘persona’, por que muitas questões de minha história pessoal misturava-se as de Joana d’Arc. Tratava o mito com metáfora. O período de infância, a prisão, a escuta das vozes e a violência sexual sofrida pela Joana francesa eram temas que eu tocava.
Em especial, essa questão da violência sexual, foi um aspecto que me aproximou muito do mito, como um campo de ressonância com algo que vivi na minha adolescência e no início de minha vida adulta. Isso não é algo que venho escondendo e, por ser uma entrevista, acho importante falar, porque muitas mulheres sofrem com a mesma questão da violência sexual. Para mim, naquela época, não era muito claro o que eu estava fazendo ao levar este material pessoal para cena, mas eu reconhecia a necessidade profunda de fazer.

Solo ‘Joana Apocalíptica’, de Luciana Lyra | Foto – Fábio Gark | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem colorida de uma mulher, com cabelos encaracolados curtos, sentada no chão, usando uma longa saia colorida, cobrindo os seios desnudos.
Para o doutorado, quis aprofundar essa questão da máscara da guerreira, pensava em trabalhar performaticamente com a narrativa mítica e pesquisar como a persona/máscara nos impulsiona na lida com questões pessoais em alguma medida. Na busca por circunscrever estes temas, reencontrei em minha estante um livro chamado Tejucupapo – um filme sobre mulheres guerreiras. Em janeiro de 2006, um amigo dramaturgo Luiz Felipe Botelho havia me presenteado exatamente por conta de minhas pesquisas com Joana. Passei a madrugada lendo o livro e fiquei absolutamente impactada com o campo de ressonâncias entre a minha história e a história daquelas mulheres antepassadas.
Em 1646, no distrito de Tejucupapo, em Goiana, aconteceu um episódio chamado A Batalha das Heroínas, como parte dos eventos bélicos da Invasão Holandesa. Conta-se que para lutar contra soldados holandeses que foram saquear o lugarejo, um agrupamento de mulheres encabeçado por Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara e Maria Joaquina alçaram mão de paus, pedras e água de pimenta nos olhos do inimigo.
Conta-se também que essa história ficou no imaginário da região e que nos anos de 1990, uma enfermeira de um posto do distrito, Dona Luzia Maria da Silva, com um grave problema de saúde, fez uma promessa que se sobrevivesse, iria restaurar história de Tejucupapo. Depois de curada, montou uma peça de teatro feita fundamentalmente pelas mulheres da comunidade, entre catadeiras de ostras, agricultoras da cana-de-açúcar, funcionárias públicas e donas-de-casa. Uma peça que, em 2018, completou 25 anos de existência.
Lendo o livro, fiquei absolutamente entusiasmada com as conexões entre a cena de Joana e as guerreiras de Tejucupapo. Percebi também que assim como eu, Dona Luzia também havia feito esse trabalho por uma real necessidade de se salvar. Então, acabei montando no meu cavalo de Joana (risos) e fui até Tejucupapo, para conversar com Dona Luzia e pedir permissão para acompanhar toda preparação e o espetáculo delas, transformando essa ação em uma pesquisa.
A investigação acabou sendo minha tese de doutorado, e se desdobrou ainda em um espetáculo chamado Guerreiras, em 2009, que virou livro, em 2010, com dramaturgia minha e trilha sonora de Alessandra Leão, além de outro livro meu, um romance infantojuvenil publicado com o título De como meninas guerreiras contaram heroínas, de 2011, com ilustrações de Vânia Medeiros.
Depois do doutorado, trabalhando como professora temporária na UNESP, em São Paulo, promovi um evento sobre dramaturgia feminina, tentando pensar a dramaturgia do teatro a partir de uma ótica das mulheres. Convidada a participar deste evento, a Profa. Brígida de Miranda (UDESC), doutora em teatro com enfoque feminista, me ajudou a pensar sobre meu trabalho pelo viés das agendas feministas. Na realidade, ela me instigou a assumir uma postura feminista em algo que por si já se apresentava dentro desta perspectiva.
O olhar desta professora parceira me estimulou a aprofundar meus estudos nas teorias e nas práxis feministas e caminhar de forma mais consistente nessa seara. Alguns coletivos de mulheres e artistas mulheres independentes de variados lugares do Brasil, começaram a me procurar para que dirigisse seus projetos e também elaborasse dramaturgias para e com mulheres. Acabei fundando, em 2013, um espaço em São Paulo chamado Unaluna – Pesquisa e Criação em Arte, em que também recebo grupos com que venho trabalhando.
Em 2014, me vinculei como professora efetiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e lá também finquei raízes para estudos sobre os feminismos, com o grupo de pesquisa chamado MOTIM – Mito, Rito e Cartografias Femininas nas Artes (CNPq), que reúne pesquisadoras e pesquisadores com enfoque acadêmico, mas com a construção de um pensamento calcado na experiência prática, em retroalimentação. Neste grupo, temos uma linha de investigação específica para investigar agendas feministas, sempre trazendo o mito como um espaço metafórico, como um espaço para pensar essas realidades e o rito como forma de manifestação do mito.
Em trabalhos como Memória da Cana, Cara da Mãe e Obscena, por exemplo, como esses processos criativos te permitiram compreender a tua formação como mulher?
Uma das questões que mais me impactaram no contato com as teorias feministas foi me conscientizar de que falar do que é pessoal também pode ter um alcance fundamentalmente político. Na década de 1970, alijadas da vida pública, as mulheres estadunidenses reuniam-se em assembleias para discussões de questões privadas e as conexões destas questões na coletividade.
Essas reuniões ficaram conhecidas como importantes para mudanças de legislações e ações sociais efetivas voltadas para as mulheres. No contexto brasileiro, isso acabou se repetindo nos congressos e ligas feministas por todo território nacional.
Procuro articular esta máxima feminista ‘O pessoal é político’ a muitos dos trabalhos que venho realizando como atriz, diretora e dramaturga. Venho promovendo espaços para que f(r)icções aconteçam. Uso a palavra f(r)icção dessa forma grafada pensando em um ‘entrelugar’ onde algo que se modela ficcionalmente, também deve estar calcado na vida real das/dos artistas. Trabalho a partir de uma escrita de si das/dos artistas para um plano de ação no micro e no macrocosmos, no sentido de uma trans-formação do mundo.
No meu trabalho como atriz n’Os Fofos Encenam, especialmente em Memória da Cana, o fio condutor da encenação era a libertação da figura da Dona Senhorinha, personagem do Nelson Rodrigues. A peça era exatamente uma trama entre o texto Álbum de Família do Nelson e de influxos dos estudos sobre a família patriarcal de Gilberto Freyre.
Em minha opinião, por mais falocentristas que Nelson e Freyre sejam, existem modos de olhar para as obras desses pensadores e sinto que Newton Moreno lançou um recorte completamente emancipatório da questão da mulher em Memória da Cana, por meio de um olhar todo especial à opressão sofrida por Dona Senhorinha.
Na peça Memória da Cana, Dona Senhorinha é lida como uma senhora de engenho aprisionada sob chicote do patriarcado, que também aprisiona tudo que vem da dimensão do feminino. Atuar sob a máscara de Dona Senhorinha neste recorte me levou a acionar toda minha linhagem de matriarcas e suas opressões, dando um contorno singular à personagem.
Após Guerreiras, que estreou em 2009 juntamente com o Memória da Cana, também, como falei, comecei a ser convidada por vários coletivos de mulheres para trabalhar como encenadora, diretora e dramaturga. Primeiro, em 2012, veio Homens e Caranguejos, com quatro atrizes do Coletivo Cênico Joanas Incendeiam (SP) que gostariam de discutir temas do livro de Josué de Castro, como educação e fome, questões caras a estas atrizes interessadas em problematizar suas ações como educadoras e mães.
Depois dessa peça, aconteceram três processos quase concomitantes, Fogo de Monturo, que desenvolvi com o com o Grupo Arkhétypos de Teatro (RN), Cara da Mãe, com o Coletivo Cênico Tenda Vermelha (PE), e Obscena, com a atriz Fabiana Pirro, também de Recife.
Vânia Medeiros e Luciana Lyra, ilustradora e autora em tarde de autógrafos do lançamento do livro ‘De como meninas guerreiras contam heroínas’ | Foto – Arquivo Duas de Criação | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem colorida de duas mulheres sentadas diante de uma mesa, em que uma delas, Luciana, autografa um livro.
As três dramaturgias e encenações/direções partiram de necessidades muito particulares dos grupos e da atriz, em fustigar questões que muito lhe interessavam num campo eminentemente pessoal. Nos três trabalhos, pude fomentar estas questões pessoais de cada uma das artistas conduzindo esta matéria para a cena e tendo sempre o mito como metáfora para criação.
No caso de Obscena, encontramos uma interseção entre a história de Fabiana e Hilda Hilst, toda uma relação importante com a figura paterna que as unia, algo que nos impulsionou advindo do arquétipo do pai. Então, fomos tentando encontrar esses ecos entre o que vem da poética da escritora e o que se ligou a esse artista.
No Cara da Mãe, me saltou aos olhos a questão da maternidade que as três dançarinas traziam. Para elas, era mais do que ter o filho, mas como elas poderiam dançar aquela experiência. Então, fui catalisando esses processos e demandas dessas artistas, enveredando também por procedimentos que beiram ao terapêutico na lida com o arquétipo da mãe.
Desde o doutorado e o trabalho com Guerreiras, chamo este meu caminho de criação de Mitodologia em Arte, um caminho que parte do mito como impulso para se transitar por meandros pessoais das artistas, provocando o que chamo de f(r)icção. Esses processos, muitas vezes, se configuram como ritos de passagens para quem atua, também tem um calibre curativo em alguma medida, por que acredito que o teatro, a arte em si, tem esse viés xamânico e psicomágico, sabe? Naturalmente, o foco com o processo mitodológico é elaborar a cena, não é terapêutico, mas, sem dúvida tangencia estas questões.
Quando os gregos queriam falar sobre as questões deles, eles iam ao teatro ver as tragédias e comédias. Os mitos eram contados ali, eram encenados e traziam nas narrativas, os ensinamentos. Os mitos são narrativas de conhecimento profundo que não tocam muito naquilo que é ‘moralmente correto’, digamos assim, mas na ética, naquilo que é melhor para você individual e coletivamente. E o rito é toda a performance que se constitui para manifestar o mito.
Todas as artistas que vem trabalhando comigo ao longo deste tempo vem me ajudando a criar a Mitodologia em Arte e a me repensar e me formar enquanto mulher. Depois de meu sonho com Joana, eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo, mas eu tinha sofrido uma violência sexual no meu início de vida adulta e não encontrava espaço para falar.
Com essas outras artistas, fomos criando espaço para discutir e expurgar sobre essas questões difíceis, como no Cara da Mãe, vimos como ser mãe é lindo, mas também tem um lado sombrio, de não conseguir lidar com muitas coisas e o processo criativo ajudar a lidar com elas.
Depois veio Fogo de Monturo, onde trabalhei o mito da guerrilheira, o Quarança, de 2017, em São Paulo, que voltei ao mito da guerreira, a partir de Diadorim, com A Próxima Cia-SP, mais recente teve o Pour Louise ou a desejada virtude da resistência, com a atriz paulista Beatriz Tragtenberg além de outros trabalhos que venho orientando nas universidades que também partem da Mitodologia em Arte, como: Therèse, de Karla Martins; Yriadobá, de Adriana Rolin; A Bárbara, de Brisa Rodrigues; Bia Boa, de João Vitor Ferreira e Amotinadas, experiência coletiva do Motim.
Todas estas artistas e trabalhos tem me ajudado a criar este caminho mitodológico, trazendo para a consciência da cena questões que nos movem como mulheres e, sem sombra de dúvidas, todo esse processo curativo se faz em mim, me forma como mulher, a medida em que trabalho com elas, num jogo profícuo de reflexos.
Nas tuas investigações acadêmicas e artísticas, você traça termos pouco ortodoxos como ‘Artetnografia’ e ‘Mitodologia em Artes’. O que você vem descobrindo e realizando junto a (e a partir d)esses conceitos?
Já toquei um pouco nesta questão da Mitodologia em Arte, mas vou contar mais como estes termos surgiram… Na época em que eu estava no TAP, quando comecei a fazer teatro, percebia sempre uma primazia do texto teatral, como principal mote para criar as cenas: líamos o texto e marcávamos as cenas no palco. Uma forma, digamos, tradicionalista de ver a cena.
A partir de experiências na universidade com teatro contemporâneo e no curso de direção que fiz com Roberto Lúcio, comecei a perceber que poderiam existir outras matérias de criação, que no meu entender poderiam ser mais profundas e transformadoras, ou mesmo, um jeito de lidar com o material textual que era diferente daquela maneira mais tradicional, o caminho que vinha das imagens.
Também em sala de aulas, como professora de alunos e alunas de ensino fundamental e quando dei aula no SESC-PE para estudantes de teatro, comecei a trabalhar fábulas, contos de fadas e mitos como material primordial na construção dos jogos de criação. Ter estudado com o Prof. Marco Camarotti na UFPE me instigou muito na lida com estes materiais. Camarotti compreendia o poder e a profundidade destes conteúdos na transformação pessoal e coletiva. Compreendia que esse material poderia ser fundamental na educação de crianças e adultos.
Alquimizando todas estas experiências que estava tendo na construção de Joana; na sala de aula com estudantes e na especialização com os estudos entre arte e religião, comecei a juntar uma série de procedimentos de criação que provocassem experiências mais profundas, que tivessem o calibre de ritos pessoais e coletivos, jogos que passaram de dramáticos ou teatrais, para jogos existenciais, como os chamo. Comecei a entender que a partir destes jogos podemos produzir uma cena singular e que a dramaturgia também poderia surgir desta roda de experiências.
Este conjunto de jogos existenciais, de procedimentos de criação, fui trazendo dos campos da psicologia, da antropologia, da religião e da própria arte. No mestrado, eu ainda não tinha nomes para esses procedimentos, os nomes começaram a chegar no doutorado e no doutorado comecei a chamar este conjunto de procedimentos de Mitodologia em Arte. Nesse processo todo também foi importantíssimo o contato especial com o campo da antropologia.
Após a morte do Renato Cohen, acabei sendo orientada pela antropóloga Profa. Regina Muller no mestrado e depois no doutorado e pós doutorado com o Prof. John Dawsey, da antropologia da USP. Tomar contato com a antropologia me fez perceber ainda mais a performance numa perspectiva de ritual e dos modos da pesquisa antropológica. Se, quando um antropólogo vai à pesquisa de campo, ele pode fazer uma etnografia, como seria para um artista que vai ao campo e cria um espaço de encontro com esses outros e trama seus mundos aos deles?
Com as mulheres de Tejucupapo, fui ao encontro delas e depois levei as artistas de Guerreiras para esta relação. Vivemos um tempo com elas, nadamos, brigamos, demos aulas de teatro para elas, elas deram aulas para a gente de como se dança e toca o coco de roda, como se pesca, se rema barcos e abre ostras, por exemplo. Foram estas trocas que sedimentaram ainda mais o imaginário das artistas e, a partir dessas imagens, fomos tecendo a cena, vinda fundamentalmente da memória impregnada de experiência com elas.
Comecei a chamar essa experiência de ir ao campo da artista não de etnografia, mas de Artetnografia. No cume da experiência artetnográfica voltamos para a sala de trabalho e lá juntávamos imagens ou estimulávamos para que outras imagens pudessem aparecer: ‘O que nos impactou dessa viagem à outra? Sons, músicas, cores, cheiros, jeitos de andar e ser das mulheres de lá? Narrativas? Como vamos dar forma a isso?’
Da Artetnografia íamos para os jogos existenciais, para os procedimentos de criação mitodológicos nas salas de trabalho e daí começávamos a tecer as imagens para a cena. É bom saber que esse conceito de ‘mitodologia’ não foi criado por mim, mas por um sociólogo francês chamado Gilbert Durand, estudioso do imaginário.
No campo da sociologia, Durand começou experimentar os mitos e as narrativas simbólicas como impulsos para transformações de agrupamentos sociais. Como trabalho no campo artístico, minha forma de trabalhar com a mitodologia termina sendo bem diferente em relação a dele, mas sem dúvida, os estudos do imaginário vão ter grande impacto sobre o caminho de criação que venho traçando.

Espetáculo ‘Guerreiras’ | Foto – Val Lima | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem colorida em que vemos três mulheres em um palco, agachadas em posições diferentes e com figurinos distintos. Diante delas, algumas bacias de águas viradas para baixo e ao fundo, um cenário com redes de pesca.
Nas tuas pesquisas e formações ligadas uma ideia de dramaturgia feminina e feminista, quais as particularidades, imaginários e potências que vêm aparecendo nessas outras narrativas e modos de contar?
Usar o nome dramaturgia feminista foi algo que assumi há pouco tempo, por que, como falei, trabalho com mulheres e sobre questões de mulheres desde o início dos anos 2000. Desde este tempo que trago materiais pessoais de mulheres para a cena, buscando uma escrita cênica de si, um caminho de cura para questões particulares que tem uma relação direta com macropolíticas de alijamento das mulheres no campo social.
Mas esta minha prática não carregava desde este tempo a alcunha de feminista. Ao longo da travessia, comecei a perceber que deveria assumir como bandeira os feminismos, entendendo que esta ação de ‘assumir’ poderia auxiliar no processo meu de empoderamento e de muitas outras mulheres.
Nesse caminho de me entender feminista, também comecei a perceber os tantos obscurecimentos de mulheres artistas, em especial, daquelas que como eu, alcançavam alguma função dita central no teatro, como a direção e a dramaturgia. Também neste processo de compreensão, comecei também a me assumir enquanto diretora, encenadora e dramaturga, a legitimar o caminho de criação mitodológico e as narrativas pessoais como modos de descolonizar um imaginário patriarcal de criação.
Penso que esse lugar da mulher na escrita para teatro precisa ser repensado, assim como as personagens femininas no teatro que invariavelmente terminam sendo mortas desde o teatro grego. Muitos dos textos teatrais destacam o papel do herói, circundam no campo do falocentrismo, a maioria são escritos e dirigidos por homens, temos poucas heroínas ou agrupamento de mulheres que conseguem transcender, lutar e alcançar seus objetivos ao final do enredo.
Por isso que, recentemente, comecei a assumir essa dramaturgia como feminista, porque reconheço a necessidade de discutir questões que fazem parte da agenda das mulheres, vê-las como pessoas que lutam e conseguem alcançar seus objetivos de vida em meio a todos os processos de obscurecimento. E esta escrita dramatúrgica passa a ser bastante partilhada.
Por exemplo, dentre os procedimentos mitodológicos ou jogos existenciais, nas disciplinas na universidade, em oficinas ou processos artísticos, acabo por criar o que chamo de mandalas dramatúrgicas em que coloco a imagem do mito-guia do processo de criação ao centro de uma cartolina e depois vamos todas colocando imagens que se conectam com este mito-guia, formando uma espécie de caleidoscópio de imagens.
Pois é justamente esse caleidoscópio que me ajuda na organização dos textos teatrais, que vem sem dúvida de um campo menos hierarquizado, trançando várias imagens de todas que participam do processo de criação. Então, essa forma de pensar uma dramaturgia feminista tem a ver com uma artesania em que você trabalha com o material que as mulheres vão trazendo e torna o processo mais autoral e dicotomicamente coletivo.

Cena do espetáculo ‘Um Berço de Pedra’, de Newton Moreno | Foto – Jerusa Mary | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem de uma mulher com cabelos encaracolados longos, usando roupas com tons terrosos e uma bandana na cabeça. Ela grita intensamente em nossa direção.
Como você percebe as potências da arte tanto em reproduzir como romper com os imaginários de masculinidades e feminilidades e refletir nossas questões de gênero – e com a ideia de gênero em si?
Pensamos nas teorias de gênero por uma perspectiva feminina porque elas surgem, justamente, a partir da necessidade de se falar das questões referentes às mulheres. Mas hoje pensar sobre as mulheres demanda que pensemos sobre as diversas mulheridades e também os novos masculinos que estão surgindo.
Por mais que tenhamos tido um boom dos movimentos feministas na década de 1970, o modo como entendemos os feminismos hoje amplia e diversifica às outras demandas com que as mulheres e homens se deparam.
Junto com um monte de mulheres e homens com quem venho trabalhando ao longo deste tempo, penso que esse processo de revisão de gêneros seja irreversível, mesmo em meio a todas essas ameaças de retrocesso como o que vem se instalando agora com um governo de extrema direita, eu desacredito que vamos recuar abruptamente.
Por toda esta trajetória que passei e venho passando, penso que arte é uma das principais plataformas de rompimento dos imaginários de masculinidades e feminilidades, e não à toa, sofre imensa repressão quando os regimes totalitários se instalam, regimes que querem uniformizar as visões, regimes que entendem o masculino como ‘naturalmente’ dominante.
Entendo que todo esse processo que estamos passando, ao meu ver, destampa uma necessidade de se revisar a questão do masculino, e a arte, o teatro, a dança, todas artes surgem como escudo e espada, como reservatório de gritos de guerra, de instâncias de amor.
Notas de Rodapé
[1] Autor de livros como A performance como linguagem e Work in Progress na Cena Contemporânea