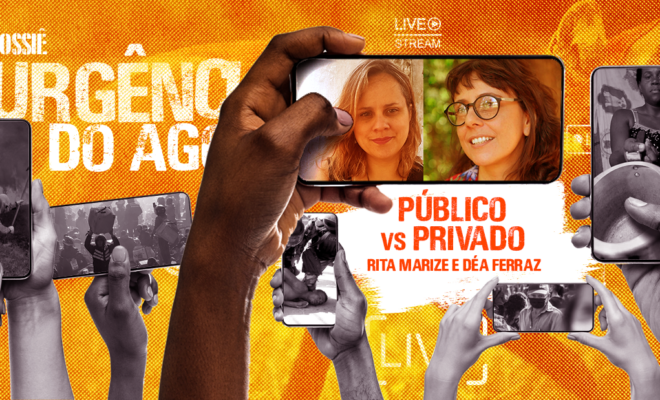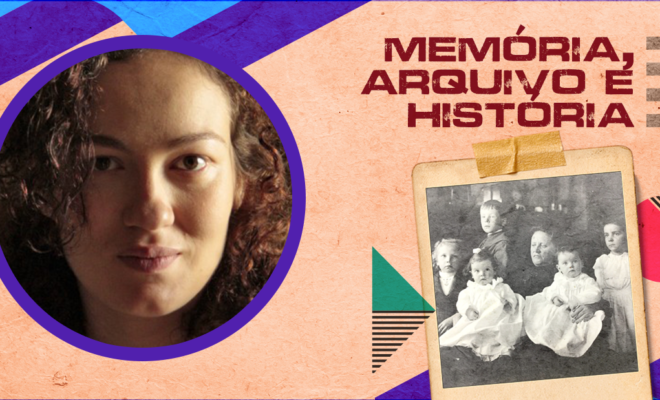#19 Artesanias Digitais | As imagens de Nós
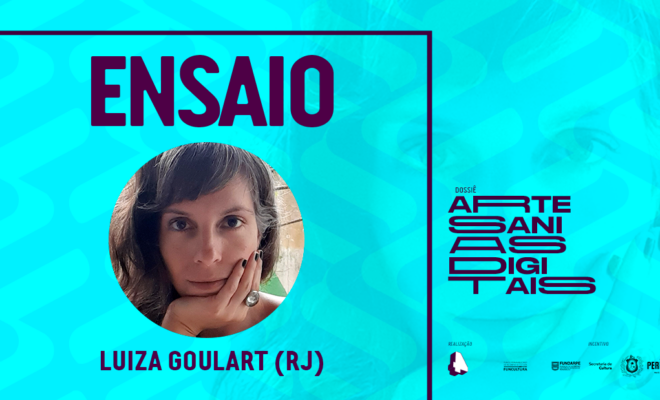
|
Ouça essa notícia
|
Arte – Rodrigo Sarmento
Por Luiza Goulart
Mestra em Artes da Cena (ECO-UFRJ), Pós-graduada em Gestão de Bens Culturais (FGV), Graduada em Comunicação Social (PUC-Rio) e Cinema (UGF)
Quando assisti Nós, espetáculo do Grupo Galpão dirigido por Marcio Abreu, em agosto de 2017, fiquei extremamente tocada, do início ao fim. E também depois do fim, durante muito tempo as imagens daquele acontecimento permaneceram claras na minha memória, numa espécie de comoção que não tinha nome. Em 2018, escolhi desenvolver uma pesquisa de mestrado em Artes da Cena, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a fotografia de cena, investigando sobre como ela pode inscrever a cena em uma memória compartilhável, ou seja, como – e para que, ou por que – registrar em imagem o instante transitório entre o que acontece e o que permanece após o “fim da cena”. Me interessou pensar nas fotografias associadas a outros elementos, como a dramaturgia publicada e a própria lembrança da experiência de assistir a um espetáculo, para assim construir uma memória da cena, a partir de fotografias que ganham e perdem, agem e pacificam, estranham e naturalizam gestos, narram e mentem, revelam e escondem.
Se hoje estamos acostumados a ler e a interpretar as imagens, vislumbro aqui a possibilidade de viver a imagem como uma experiência. Entrar na fotografia de cena como quem se senta na plateia e vivencia um encontro de muita potência, por mais diferente que ele seja da experiência da cena a que se refere. Refletir sobre a relação entre a fotografia e a cena me leva a questionar se a fotografia de cena sempre teria uma relação de dependência àquela cena: será que ela poderia transcender totalmente à cena e tornar-se uma obra de arte autônoma, uma fotografia encenada, apenas? Ou ela pode tornar-se uma obra de arte autônoma sem perder de vista seu referencial cênico?
Neste artigo, levo em consideração que a experiência cênica – o encontro do espectador com a obra teatral – é irreproduzível, inclusive pela fotografia de cena, mas a elaboração de sentidos e reflexões a partir do documento fotográfico pode tornar-se uma outra experiência. Para esse novo mergulho em Nós, parte da pesquisa de mestrado que defendi em junho de 2022 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, olho com atenção para o conjunto de fotografias de cena realizado pela fotógrafa Elisa Mendes, durante a temporada no teatro SESC Ginástico, no Rio de Janeiro, quando eu também assisti o espetáculo.
Em Nós, encena-se o desgaste, o embate, o combate da perspectiva única. A tentativa de não se desfazer mas também a necessidade de uma dissolução. Às vezes a solução é exatamente o fim, porque ele possibilita também um princípio. Há muitos princípios em Nós, por mais que ocasionalmente seja difícil de enxergar onde o nó começa; para atar e desatar nós é preciso ter conhecimento de sua origem. Nós estamos juntos e separados, indivíduos e coletivos, faces e interfaces. O que Nós leva à cena é a complexidade da convivência dessa co-existência, e, ao levar a plateia para dentro da cena, antes do princípio da ação entendemos que, embora não tenhamos ensaiado, somos parte desta cena que iremos presenciar.
Ao nos tornarmos parte, no entanto, não perdemos a nossa perspectiva individual e, mesmo de cima do palco, temos um papel bastante definido: somos espectadores e, como tais, viveremos uma experiência particular, baseada em nossas próprias reflexões e reações sobre o que é encenado. Podemos nos apoiar na concepção de “partilha do sensível”, de Jacques Rancière para entender o dentro de cena e o fora de cena, no caso de Nós: articular o que é específico e o que é comum, formando um entendimento mais profundo da experiência estética e, também, da própria realidade que vivemos.
Escrevo sobre os nós que a fotografia de cena desse espetáculo traz a partir da provocação de Didi-Huberman, quando ele coloca que é preciso “não apreender a imagem e em deixar-se antes ser apreendido por ela: portanto, em deixar-se desprender de seu olhar sobre ela. O risco é grande, sem dúvida. É o mais belo risco da ficção.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 24)
Perceber os acontecimentos
A primeira situação apresenta um grupo de sete pessoas em um confronto confuso. Uma mulher segura um homem pela camisa, como que o mantendo longe de algo que ele quer alcançar, mas que ela tenta evitar. Há uma certa violência no gesto dela, que parece ser uma reação à vontade dele, também agressiva, mas que já aconteceu antes desse instante. De costas, vemos homens reunidos no mesmo espaço, fazendo esforço para empurrar algo. Pelo espelho, é possível ver uma mulher sendo arrastada por esses homens mais jovens do que ela para uma espécie de buraco no chão. Ela resiste e grita, mas eles são mais fortes e conseguirão empurrá-la para fora do espaço que compartilham.
As pernas da mulher já estão em parte dentro do vazio escuro, aberto no chão. Refletida no espelho, a violência de um grupo contra a mulher visivelmente fragilizada, com seu corpo à mostra, suas roupas fora de lugar, possivelmente por causa da luta corporal. É provável que o próximo instante seja definitivo, e ela não consiga mais conter a fúria dos homens que a repelem, sendo jogada neste vácuo que se abre a seus pés. No canto esquerdo da imagem, uma pessoa que não faz parte da situação observa; ela olha para o buraco que está destinado à mulher.
A segunda situação mostra a mulher sentada em uma poltrona, envolta por um aglomerado de corpos posicionados sobre ela, como que deitados nela. Eles estão como que amarrados por uma fita que os mantém colados. Quase não é possível ver o corpo dela, mas seu rosto está visível. Talvez ela esteja quase sorrindo. Ao lado dela, um homem sentado em uma cadeira sorri, com um livro aberto. O livro está apoiado nos corpos que se aglomeram em cima da mulher, que olha, por cima dos corpos, para o homem com o livro.
À direita, deitada no chão, uma outra mulher também envolta na mesma fita parece descansar, ou parece cansada demais. Talvez desmaiada, uma vez que seu braço repousa de um jeito que parece desconfortável. Ela não faz parte do aglomerado de corpos, mas é possível perceber sua relação com o todo pela fita. Mais à direita, há cerca de cinco pessoas sentadas em cadeiras, que parecem estar fora da situação pois não são iluminadas pela mesma luz. Elas olham com atenção para a ação que acontece, e há alguma tensão em seus olhares, como se esperassem o que está por vir.
A terceira situação mostra, em primeiro plano, as costas de um homem loiro, que olha de perto para outro homem, à sua frente. Este encara o homem loiro. Ele parece suado, com o cabelo com aparência de molhado e bagunçado. Sua barba e lábios estão sujos de vermelho, como um batom borrado, ou uma possível maquiagem de palhaço também já borrada ou incompleta. Em segundo plano, uma mulher sem blusa, trajando um sutiã vermelho, ajeita sua calça como se estivesse se vestindo – ou se despindo. Ela olha para o lado direito, assim como um grupo de pessoas que observa, no canto esquerdo da imagem, algo que não é possível ver.
Permanecer entre texto, imagem e experiência: o punctum em Nós
As fotografias descritas acima são parte de um conjunto de fotografias de cena e por isso captam o espírito do que acontece no palco, traduzem em imagem o que estava presente na ação, exibem nuances expressivas da dramaturgia. A atmosfera do espetáculo se faz muito viva nas imagens; é possível relembrar o entusiasmo, o desconforto, a trajetória emocional da encenação.
Se observamos as fotografias mencionadas anteriormente ao lado da dramaturgia escrita – e publicada – de Nós, é possível construir outros entendimentos, mais amplos, garantindo a soma entre as facetas da cena, em sua forma textual e em sua encenação. Na primeira situação-fotografia descrita, temos, em texto:
Mulher – Covardes! Canalhas!
Atirador de facas – Vinte e seis…
Mulher – Cretinos!
Atirador de facas – Vinte e sete…
Mulher – Eu não saio!
Homem-bomba – Você tem que sair!
Atirador de facas – Você não tem vergonha?
Mulher – Vocês é que deviam ter vergonha de falar assim comigo!
Aquele que quer ser outra pessoa – Foi combinado!
Mulher – Comigo, não!
Aquele que queria ser outra pessoa – Com a senhora, sim!
Mulher – Comigo, não!
Homem-bomba – Você sabe disso há muito tempo!
Mulher – Eu não sei de nada!
Atirador de facas – Nós decidimos! Vinte e oito, vinte e nove, trinta!
Som. Tentam retirá-la à força. Ela resiste o máximo que pode. Arrastam-na até o reverso da espécie de porta ao fundo, localizada agora na rampa, e a jogam lá dentro. Fecham a porta. Levantam a rampa que volta a ser como uma espécie de parede ao fundo, como no início da peça.
Longo silêncio.
Na segunda situação-fotografia descrita, a operação é bastante parecida: o texto da dramaturgia publicada apresenta o que a imagem também exibe. A força da imagem, nesse caso, é mais impactante. A ação descrita em rubrica diz que a Mulher “desaparece sob o emaranhado de corpos atados”. A resistência dela, ali, é a sua própria incapacidade de sair do nó onde está. Para um nó, é preciso ao menos duas pontas que formam um só corpo.
A imagem fotográfica apresenta esse emaranhado de gente, um nó, uma forma única a partir de várias outras. Mais uma vez, o olhar fotográfico também capturou reações do público. Entre curioso e fascinado, entre aflito e disperso, entre quase-sorrindo e sisudo: a imagem conduz seu leitor a perceber que há, na cena, algo de dúbio. Algo que afeta por um tipo de desequilíbrio, de descompasso.
A terceira situação-fotografia apresenta uma faceta importante da fotografia: ao mesmo tempo em que revela, ela esconde. A ação capturada pela fotógrafa mostra dois atores frente a frente, uma atriz no plano mais afastado, e a plateia a observar algo que acontece mais ao fundo do palco, fora do quadro e, portanto, de nosso alcance. É essa lacuna que não vemos ao olhar a fotografia que provoca uma imensa – e interessante – distensão.
O que será que acontecia que chamava a atenção do público? O que aconteceu que os espectadores prestaram atenção ao fundo, apesar de haver pelo menos duas situações mais próximas deles e, provavelmente, mais facilmente enxergáveis? A pergunta que a fotografia suscita – pelo que ela oculta, e não pelo que mostra – revela a força da imagem que tenta capturar o acontecimento da cena. Aqui, a presença encontra a ausência, a lembrança encontra o esquecimento: é a construção da memória, afinal.
Entrelaçar em nós
Atirador de facas começa a batucar no corpo.
Mulher – Do que vocês estão falando?
Mulher que dança – Esta é a nossa última sopa.
Homem bomba – A gente tá falando de não saber pra onde ir. De paralisia. De, de repente, sentir que a gente não existe. De você. De vocês. De intolerância. Eu tô falando de mim, profundamente de mim. Aqui! Eu tô falando agora de nós. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai?
Mulher derruba copo novamente.
Suspensão.
O trecho da cena sintetiza a obra e também o zeitgeist no qual está inserida. Criação coletiva da companhia de teatro mineira, encenada no Brasil de 2016, a peça constrói, a partir de pequenos pedaços, um imenso retrato da ambígua relação do coletivo: ao mesmo tempo em que há união e compreensão do outro, há separação e intolerância à diversidade dos entes que o formam. A potência do espetáculo está na ritualização do fazer em grupo – seja na leitura mais direta da reunião de atores de uma companhia de teatro, seja numa dimensão mais ampla da sociedade, seja numa percepção individual da família. Aquilo que soma é também aquilo que pode subtrair.
Por meio de repetições com variações que servem como cortes, edições, a narrativa conduz o público aos mais distantes pólos do viver coletivo. Em uma reunião de amigos, cozinha-se uma sopa; pica-se legumes, prepara-se uma caipirinha; mexe-se na panela. O comum ritual da preparação da refeição em grupo, no qual cada um tem a sua função e a sua atividade e, ao fim, junta-se todos os ingredientes e forças de cada um em uma panela que unifica essa multiplicidade.
A sopa de legumes é a própria metáfora da coletividade; no espetáculo, as junções e as fricções convergem para ações catalisadoras, desde a última-sopa-monumento, servida ao público, até a festa que finaliza a experiência coletiva do teatro. Mas é no entre que a narrativa flui pelos difíceis caminhos da complexidade do coletivo e é na sutileza da confusão dramatúrgica que ela afeta. A primeira sequência longa de ações repetidas, manejadas pela direção com uma sonoridade que, repetidamente, nos faz já conhecer o que está por vir, soa quase como um refrão. A cada repetição, no entanto, experimentamos uma subida no tom. O tom sobe e sobe e sobe e sabe-se, ou melhor, sente-se, que a pressão aumenta e é possível que, em breve, poderemos chegar ao ápice, a um momento de ruptura.
Há humor no texto, e há também violência. Eles seguem lado a lado e, de acordo com a repetição, no reconhecimento do que está por vir, provoca-se um estado de tensão. Como, portanto, poderia uma imagem fotográfica apresentar esses caminhos conflituosos da subjetividade? Como poderia a fotografia capturar o que não é visível e que paira pelo texto e pela ação? Ou como as imagens reiteram essas ideias que ali existem? É provável que a fotografia não possa, sozinha, registrar o feito da cena. No entanto, ao olharmos o conjunto, a sequência, sabendo que há um versionamento da mesma ação com tons diversos, podemos perceber a alteração do ritmo da ação. A harmonia seguida pela confusão.
Mulher derruba o copo d’água.
Retomam de forma levemente mais intensa e acelerada.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Retomam pela segunda vez, um pouco mais intensa e acelerada que a anterior. Cada nova retomada vai ficando mais vigorosa e alucinada.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Terceira retomada. Os atores começam a intensificar com mais radicalidade as ações, como bater a tampa da panela, atirar-se no chão, arrastar-se à procura de algo, fazer movimentos de ginástica, torcer um pano molhado jogando água para o alto, etc.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Quarta retomada. Mais intensidade, os movimentos e as ações se aceleram. A atmosfera delirante toma conta de todos.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Quinta retomada. Mais alucinação, o ritmo frenético toma conta de tudo.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Sexta retomada. A roda de ações gira com ainda mais intensidade e rapidez. O Amigo do homem que não existe sobe na mesa perguntando: “Alguém tá precisando de ajuda?”.
(…)
Mulher derruba o copo d’água.
Sétima retomada. Mulher que dança enche um copo na mesa, deixando a água escorrer pela mesa. Homem-bomba bate com a mão na mesa encharcada.
O procedimento da repetição nesta sequência em que as retomadas partem do momento em que Mulher derruba o copo d’água na mesa gera um ritmo sonoro que causa uma sensação de antecipação pelo que está por vir. Uma vez que nós, espectadores, criamos familiaridade com a sequência de ações e falas, esperamos o que virá na próxima retomada. O frisson do retorno ao início e à expectativa do que será diferente na próxima repetição é um gatilho para uma criação imediata por parte de quem assiste: já se imagina uma versão da próxima retomada, já se constrói uma imagem do que pode vir a acontecer.
O suspense torna a repetição ainda mais excitante. Por meio da impressão de uma diferença, por menor que seja, há uma construção sensorial: o ritmo das falas e a intensidade dos tons tornam-se uma partitura reconhecível que brinca e valoriza o sentido da própria repetição. O jogo em cena captura e se torna também um jogo para quem assiste a cena, num entrosamento coreográfico que também engaja, e excita, o público.
Tudo isso acontece, e a sopa não desanda, ela continua cozinhando durante boa parte do espetáculo. Ela será servida ao público mais para frente. Estaremos exaustos.
A construção dramatúrgica de Nós apoia-se no limite, ou no intervalo, entre realidade e ficção, e assumidamente joga nessa zona nebulosa para gerar uma reflexão sobre a convivência. A volatilidade existente nas relações entre pessoas que ora acolhem-se, reconhecem-se, identificam-se e ora repelem-se, julgam-se e escorraçam-se é, em Nós, apresentada de modo bastante potente. Em nenhum momento se busca explicar o sentido dessa trama, ou o porquê da gangorra de emoções. O buraco no chão, que faz Mulher sumir, me faz pensar nesse real que repete as injustiças, as desigualdades, as exclusões.
A exclusão de Mulher é um lampejo da realidade que nos faz banalizar as violências tidas como normais, cotidianas. Em “O Retorno do Real”, Hal Foster dialoga com a obra de Andy Warhol, que afirma que “quanto mais você olha para a mesma coisa, mais o sentido escapa, e melhor e mais vazio você sente.” Nesse caso, a repetição é tanto um escoamento do significado como uma defesa contra o afeto, e essa estratégia já guiava Warhol: “Quando você vê uma imagem horrenda muitas e muitas vezes, ela acaba por não produzir nenhum efeito” (FOSTER, 2017, p.126).
As imagens da violência de um grupo inteiro contra uma pessoa que, ali, seria considerada a mais frágil, seguidas das imagens de uma exagerada efusão de carinho me leva a pensar sobre as diferentes perspectivas de uma mesma relação, que oscilam de acordo com acontecimentos mas também com a (in)disponibilidade de se colocar no lugar do outro. Avançar sobre o que é do outro por definição: seu espaço, seu corpo, sua liberdade, em nome de uma concepção própria do certo e errado, e agir para forçar esse entendimento ao que é coletivo.
Vivemos em um tempo em que as liberdades individuais já estabelecidas estão sendo, uma a uma, colocadas em xeque e às vezes revogadas para uma normatização cheia de viés. O corpo de Mulher – e é assim nomeada a personagem – existe em cena para satisfazer a vontade dos outros, independentemente de sua própria vontade. Quando querem expulsá-la, a empurram para o buraco. Quando quiserem exaltá-la, o farão também.
A dicotomia entre a harmonia e a violência de um grupo é presente na encenação em toda sua duração; em seguida ao prazer da convivência, a ruptura violenta. Os mesmos corpos, ora divergentes, novamente convergem ao trabalho coletivo. Fazem música. Desfigurados, aponta o texto, após a sequência de tomadas e retomadas anteriores.
Mesmo desfigurados, fazem música no mesmo tom, cada um executando um papel em uma banda que o público conhece; ou um bando, o Grupo Galpão, tão diverso entre si, atuando há décadas de modo tão funcional. É bonito conviver com esse grupo no palco, percebendo que o que eles levam para a cena em Nós pode falar deles mesmos, mas sobretudo fala do Brasil, fala de nós. E de reviver na foto e na lembrança do tema:
PARTE 3
CENA 1
BANDA
Mulher –
Comendo a mesma comida… Suspensão
Bebendo a mesma bebida… Suspensão
Respirando o mesmo ar…
Respirando o mesmo ar…
Se eu quiser fumar, eu fumo… Suspensão
Se eu quiser beber, eu bebo
Não interessa a ninguém..
Atores e atriz entram com instrumentos e microfone. Vestem peruca na Mulher. Estão desfigurados. Usam batom vermelho borrado. Tocam e cantam “Lama”. Nos primeiros acordes da melodia, Aquele que queria ser outra pessoa joga uma chuva de purpurina sobre a banda.

Fotógrafo: Guto Muniz. Grupo Galpão em Romeu e Julieta. 1992. Reprodução da internet. Fonte: site Foco in Cena
Referências
BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
DESGRANGES, Flávio. A inversão da olhadela – alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: Hucitec., 2017.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. São Paulo: Editora 34. 2013.
FOSTER, Hal. O Retorno do real. São Paulo: Ubu, 2018.
MOREIRA, Eduardo; ABREU, Marcio. Nós. Belo Horizonte: Javali, 2018.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2005.