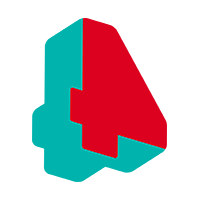Crítica – Meia Noite | A força-motriz de um performer da dança

Imagem – Lívia Neves
Por Bruno Siqueira
Professor de Teatro (UFPE)
Passados séculos de colonização no Brasil, com inúmeros e gradativos focos de resistência, estamos hoje num movimento cada vais mais forte e mais coeso, por parte das minorias sociológicas, de questionar, negar e enfrentar a colonialidade do poder, do saber e das nossas subjetividades. O educador brasileiro, Luiz Rufino, por exemplo, propõe uma mudança decolonial radical de paradigmas e oferece uma epistemologia calcada noutras bases, que tomam por referência os saberes de matriz afro-indígena-brasileiros. Na esteira desse pensamento, precisamos olhar e produzir nossas formas e processos culturais através de saberes que descentralizem o paradigma europeu colonial e nos abram novos horizontes de expectativas, nos quais possamos nos reconhecer e nos identificar como alteridades.
O bailarino recifense Orun Santana, filho da Mestra Vilma Carijós e do Mestre Meia-Noite, cognome de Gilson Santana, foi criado em meio ao movimento cultural, educacional e artístico promovido pelo Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, fundado por seus pais em 1988 e localizado na comunidade Chão de Estrelas, em Peixinhos, subúrbio de Recife. Orun, cujo nome provém do orixá Orunmilá, estudou Dança na Universidade Federal de Pernambuco, onde, em meio a uma formação contemporânea (e europeia), foi encontrando, per se, sua ancestralidade afro-brasileira e subvertendo as danças de matrizes europeias pela força-motriz advinda dessa mesma ancestralidade africana e diaspórica.
Meia-Noite, seu último espetáculo autoral, em que atua como dramaturgo, diretor e bailarino solo, é um trabalho que vem sendo gestado há algum par de anos, estreando em Recife em 2018. O título faz referência ao nome de seu pai. A busca de sua ancestralidade como produção de subjetividade passou pela memória de sua origem paterna e materna. Orun constrói nesse espetáculo uma escritura cênico-dramatúrgica do eu. Esse recuo temporal é delicadamente simbolizado no início do espetáculo, quando ele vai desenhando, através de uma farinha branca, uma espiral, do centro para a extremidade, que vai ocupando todo o espaço da cena. Logo após isso, perfaz o caminho de volta, da extremidade para o centro.
A espiral, no Ocidente, tem um valor simbólico e espiritual da evolução, do movimento ascendente e progressivo, geralmente construtivo. Em África, a espiral possui, em muitas etnias, o simbolismo da criação da vida e a expansão do mundo, representando, em muitas aldeias, o deus masculino, bem como o movimento das almas e dos espíritos. Voltar ao ponto inicial dessa espiral é voltar à origem. O bailarino parece estar voltando à sua origem e, com isso, vivenciando seu renascimento.
O palco se torna uma encruzilhada, sendo Exu (Èṣù) o princípio, o domínio e a potência referente à linguagem; o suporte físico em que se montam as experiências, as cognições, as memórias. Princípio da imprevisibilidade e do inacabamento do mundo, Exu constitui a força-motriz que move o corpo de Orun Santana no palco, sendo guiado por Oxaguian (Òsógìyan), filho de Oxalufan (Orìşà Olúfón ou Òsàlúfón), considerado o Oxalá (Òṣàlá) novo; um orixá jovem, forte e guerreiro. O orixá de frente de Orun Santana é dinâmico e encoraja seus filhos a encarar as lutas diárias para que possam superar os obstáculos. Nessa mesma cosmogonia, não é coincidência que Mestre Meia-Noite tenha Oxalufan como seu orixá de frente. Pai e filho se encontram na encruzilhada do palco.
Em sua dramaturgia corporal, o bailarino coleciona documentos e memórias que remetem ao arco que leva da vida de seu pai, o Mestre Meia-Noite, passando pela forte presença de sua mãe, a Mestra Vilma Carijós, até chegar às suas próprias subjetividades, herdadas e construídas por essa ancestralidade. Seus movimentos, marcados pelas gingas da capoeira, evocam o passado de seu pai, nascido no interior do estado, em contato com o gado e a estiagem. Os chocalhos enrolados no pescoço e o crânio bovino na face do bailarino geram uma cena potente, um corpo-memória que afeta o espectador, remetendo-o a um tempo-espaço de homens pobres e bravos de um Nordeste ainda pouco conhecido. Ogun (Ògún), orixá das batalhas, assoma no espaço, demarcando a força guerreira masculina.
Ao mesmo tempo em que essa força masculina constitui o corpo de Orun Santana, ele é atravessado por uma ancestralidade feminina. O bailarino realiza em cena um mergulho de cabeça, dentro de uma grande cabaça cheia de água, com parada de 3 consecutiva (um passo de capoeira). A parte de baixo da cabaça é feminina na cosmogonia africana yorubá; e as águas são de Oxum, orixá materno. Quando toca os pés de volta ao chão, ergue sua cabeça lançando água pelos ares e exalando feminilidade. O corpo-memória traz, assim, a complementação das forças masculinas e femininas que o constitui.
Valendo-se do conceito criado por Zeca Ligiéro, o corpo de Orun Santana carrega não apenas suas matrizes culturais afro-diaspóricas, mas aciona motrizes culturais, entendidos como um conjunto de dinâmicas culturais e performativas utilizadas na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos. Em sua prática performativa, Orun Santana se vale da dança, do canto, da música, do figurino, do espaço numa celebração ritualística, através da arte, de suas memórias ancestrais.
Esses motrizes culturais acionados pelo artista já começam pelo jogo estabelecido na entrada da sala de espetáculo, onde recebemos um ramo de arruda e sementes de girassol, elementos que, no candomblé, são responsáveis pela limpeza espiritual e proteção contra os maus olhados. A experiência na qual imergimos constitui um jogo ritualístico. O louvor aos ancestrais dá-se em forma de culto. A presença constante do Mestre Meia-Noite no espetáculo, inclusive no uso de sua voz em off ao final do trabalho, guardião do conhecimento da tradição da capoeira e dos cultos religiosos, transmite esse legado a Orun Santana, que lidera o ritual e a celebração, dos quais somos, enquanto público, convidados a participar.
Outras referências assomam dos movimentos do corpo do bailarino, que nos remetem às marcas da negritude. Dos seus pés, desenham-se e estilizam-se os passos de frevo, do maracatu, chegando às danças mais contemporâneas e periféricas do funk e do passinho. Essas estilizações na dramaturgia da cena, além completar a arco que vai do passado ancestral ao presente mundano, expressam formas de movimento da juventude negra pouco aprovadas pela elite cultural – como o funk e o passinho –, mas que constituem modos legítimos das festividades periféricas.
Vale destacar dois fortes momentos em que a cena ancora no drama presente da luta do negro em nossa sociedade racista. Primeiramente, quando ouvimos sons de balas e de um tiro de fuzil, que faz o corpo do bailarino prostrar-se ao chão, evocando muitos dos irmãos pobres e de cor preta vítimas do genocídio racial. Num segundo momento, quando Orum hasteia uma faixa, em que está escrita a frase MOA VIVE, fazendo alusão a Romualdo Rosário da Costa, o Mestre Moa do Katendé, compositor, percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira brasileiro, que foi assassinado com doze facadas pelas costas após o primeiro turno das eleições gerais de 2018. Segundo testemunhas e a investigação policial, o ataque foi motivado por discussões políticas, após Romualdo declarar ter votado em Fernando Haddad. Esses dois momentos, sobretudo, constituem belas e pungentes homenagens; ao mesmo tempo, fazem uma crítica feroz, através da arte, às vítimas do genocídio da população negra no Brasil.
Não posso deixar de reconhecer, aqui, o primoroso trabalho de Natalie Revorêdo na dramaturgia da luz, que colabora para criar e recriar tempos e espaços, bem como para tornar o corpo do bailarino potente no desempenho de seus movimentos. Na apresentação da MIT-SP de 2020, no palco do Teatro Alfredo Mesquita, a luz foi belamente executada por Domingos Júnior, que também é assistente de direção. Aos artistas, um respeitoso e sincero muito obrigado. Àṣẹ!