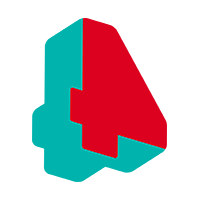Crítica – Gota d’água [PRETA] | Camadas de pretitudes

Imagem – Evandro Macedo
Por Lorenna Rocha
Licencianda em História (UFPE) e Crítica Cultura
Nos meus primeiros dias em São Paulo, as primeiras 48 horas já anunciavam que eu precisaria criar estratégias múltiplas para lidar com os ambientes em que a branquitude se espalha e confronta minha existência. Não falo apenas da excessiva presença branca que percorre as filas dos espaços teatrais, mas das diversas ausências e um tônus de enfrentamento que se espalham por lugares bem assinalados nesta cidade e que fazem parte das próprias experiências [de trauma] negras. Pouco parece para algumas pessoas, mas se instala um clima que fica, por vezes, difícil racionalizar ou nomear: simplesmente é.
Se a minha investida de ir até ao Aparelha Luzia era um modo de encontrar um simples respiro num sábado à noite, essa ação ligeiramente se traduziu em recarregar minhas energias. Naquele lugar, as materialidades de objetos e símbolos das negruras me chamaram atenção: enquanto a música de Jota.pê tomava conta do espaço, o vaso com arruda, o defumador, livros de pensadores negras(os), um quadro com os dizeres “as histórias têm outros lados” e a imagem da Érica Malunguinho emoldurada não eram pequenos detalhes. Tampouco objetos com uma função decorativa que findava em si. Como num processo de reinscrição, essas peças assinaladas apontavam para outras formas de estar e sentir o(s) mundo(s).
Dias depois chego ao Teatro do Sesi, no Centro Cultural da FIESP. Olhando para o palco, pareço revisitar a sensação que tive ao estar no Aparelha Luzia. O vaso com espada de São Jorge, a bandeira do Brasil no chão repigmentada com as cores da Mangueira (e com manchas de sangue), as bandeiras brancas com a representação de alguns orixás, os atabaques e as garrafas de cachaça não eram pormenores. A composição do espaço cênico negritava em múltiplas camadas a dramaturgia criada por Chico Buarque e Paulo Pontes, em 1975, Gota d’água, assim como o próprio nome da peça dirigida por Jé Oliveira enfatiza: Gota d’água [PRETA]. O acontecimento teatral também reterritorializa o próprio espaço da FIESP. Uma das instituições apoiadoras do golpe de 2016, a(s) presença(s) e história(s) preta(s) naquele teatro, simbolicamente, se tornou(ram) um gesto potente de retomada.
Pensar em teatro(s) negro(s), parafraseando o crítico e pesquisador Guilherme Diniz em seu artigo Crítica da Razão [TEATRAL] Negra (acesse AQUI), é compreender que há outros universos de práticas, conceitos e possibilidades afetivas a se conhecer e se inventar. Posicionando a crítica também como um lugar de co-criação e fabulação, como nos aponta a crítica e pesquisadora Soraya Martins em seu texto Sobre crítica, fabulação e expansão (acesse AQUI), produzir reflexões sobre Gota d’água [PRETA] torna-se também um movimento de fazer emergir outras significâncias, de criar e curar, como diz Soraya, através da escrita. Em ambas leituras, os pesquisadores são enfáticos quanto a necessidade de atentarmos às produções e procedimentos estéticos criados, inventados e reinscritos por essas presenças negras no teatro, indo além das leituras políticas do que se tem produzido na(s) cena(s) negra(s).
Ativando essa chave de leitura, pretendo destacar alguns desses procedimentos de Gota d’água [PRETA], me perguntando se podemos dialogar com aquilo que chamamos de “estética(s) negra(s)”. Existe uma(s) estética(s) negra(s)?
A peça tem como núcleo narrativo principal a desilusão amorosa de Joana (Juçara Marçal) por Jasão (Jé Oliveira), após os dez anos de relacionamento entre eles. Com sua repercussão na mídia, devido ao sucesso da canção Gota d’água, o sambista atrai atenção de Alma (Marina Esteves) e se vê interessado pela possibilidade de ascensão social devido à fama e ao casamento com a jovem, que é filha do empresário Creontes (Rodrigo Mercadante), responsável pelo conjunto habitacional que abriga mais de oitenta famílias na periferia em que se passa a história. Se na versão original a pretitude não estava explicitada, mesmo falando dos subúrbios cariocas, é a presença negra em cena junto aos atabaques que se encontram com a musicalidade de Tim Maia, Racionais MC, Jorge Ben Jor e Elza Soares que dão tom e cor para essa história.
Dando um giro de autorreferencialidade, a peça racializa as questões de classe desenvolvidas pela dramaturgia original, atualizando-a com temáticas e problemáticas das negritudes no Brasil do presente, com elementos cênicos, iluminação, sonoridades e visualidades que remetem a símbolos, culturas e produções de saberes negros. Como numa encruzilhada, a dramaturgia se sobrepõe, se expande, se desdobra, volta ao seu início, num eterno movimento. A saudação a Exú, marcada e produzida pela corporeidade da atriz Aysha Nascimento e pelas luzes vermelhas que se espalhavam pelo palco, era um pedido de licença, uma anunciação: a abertura dos caminhos estava feita.
Os atores e atrizes, que iniciam a peça sentadas desenhando um semicírculo em cena, mesclam o modelo de palco à italiana e semi-arena, com a presença de duas arquibancadas que convidam o público a uma experiência espetacular de dentro, de junto, de perto. Começados os trabalhos, atores e atrizes levantam-se um a um, formando um corpo coletivo que anda de um lado para o outro em cena, demarcando as dimensões individuais e coletivas dos personagens. Ainda nesse movimento de ir e vir, a presença das personagens femininas toma destaque e os homens voltam aos seus assentos iniciais. Marcando as jornadas múltiplas numa sociedade que historicamente explora e suga o corpo preto e feminino, cada uma das personagens tem seu corpo tombado no espaço, numa demonstração de esgotamento, que passa a encontrar uma rede de apoio em suas irmãs-comadres ao serem rapidamente levantadas umas pelas outras.
Uma questão pertinente levantada pela crítica e pesquisadora Luciana Romagnolli, no texto Gestos de Desobediência (acesse AQUI), está em relação à maneira como as questões de gênero estão traçadas pela peça Gota d’água [PRETA] que, segundo os apontamentos críticos desenvolvidos por ela, a personagem de Joana acaba por perpetuar o patriarcalismo, devido a sua profunda relação de dependência à figura de Jasão, que é responsável por todo seu desgaste físico e emocional, assim como pela competição entre as personagens Joana e Alma.
Ao mesmo tempo que concordo com Romagnolli, se podemos fazer um movimento de descentralização da figura de Joana, sem relativizar as opressões de gênero que se repetem na estrutura do texto, não custo a destacar outras duas personagens: Nenê (Dani Nega) e Corina (Aysha Nascimento). Ambas, aos meus olhos, são grandes dinamizadoras deste enredo, com seus diferentes estados de presença e de função dentro da narrativa. Em meio às suas diferentes tomadas de decisão e de leitura sobre o que está se desenrolando naquele espaço, elas constroem um pacto de coletividade que vislumbra assistenciar Joana e retirá-la de sua solidão e angústia.
Ainda que estruturante na narrativa, a mesma Joana que encontra-se desolada devido ao abandono e as implicações de classe e raça que a decisão de Jasão tem por si só, ela também protagoniza monólogos que refletem a investigação de si mesma para entendimento daquilo que a oprime, justificando a opção de sua morte no final, não apenas no que se refere a um retrato social do Brasil, mas como uma mulher que também se faz dona do seu destino, lúcida de suas decisões. Uma outra camada desse desfecho, é a atualização da maneira como podemos ler esse fim da personagem, tendo em vista que, dentro da cosmologia africana, a morte se relaciona a outros significados, a novos começos, a uma contínua conexão entre todas as temporalidades, potencializando a escolha de Joana, nesse sentido.
Muitas das imagens protagonizadas por Juçara Marçal produzem uma potência visual que contrasta com a violência estrutural em que aquela mulher está envolvida. O trecho da música Mulher de Vila Matilde de Elza Soares, após o embrutecimento violento de Jasão perante Joana, corta e perfura a história como resposta imediata a um quadro de violência que tanto se repete no país, dentro dos núcleos familiares. Se a força da personagem Joana vai se construindo com o decorrer do tempo, e se complexificando, Jasão se descamufla cada vez mais, mostrando suas fragilidades e escancara seu tom conciliatório que muito mais agrada a suas próprias ambições do que aponta para um gesto pensado em um lugar de coletividade.
Outras duas escolhas de procedimentos estéticos e poéticos que se destacam em Gota d’água [PRETA], são os usos de dois conjuntos de objetos cênicos: as cadeiras e os microfones. Se a forma de sentar, o tipo de material e tamanho de uma cadeira podem anunciar e demarcar simbolicamente as diferenças de classe que se estabelecem no Brasil, o uso dos microfones nos momentos em que se quer enfatizar um momento do diálogo, como se deixasse vocalmente uma espécie de caixa alta, são eles também que potencializam as vozes das pretitudes no palco, ecoando vozes, dando atenção e coro a essas presenças. Tal procedimento estético me faz lembrar da imagem criada pela última cena do espetáculo PRETO, da cia brasileira de teatro, em que a atriz Cássia Damasceno está envolta por uma série de microfones que projetam a cena para ela, fazendo com que a voz daquela mulher preta encontrasse eco, à sua maneira.
Em múltiplas camadas, com ambiguidades e tensões internas naquilo que se pretende fazer, Gota d’água [PRETA] é um gesto de reinscrição, um grito pela coletividade e uma demarcação daquilo que ainda se custa a ver: as ações fundantes das populações negras e o sangue preto que constitui a estruturação desse país.